Petrobras e ditadura: marcas de uma transição forjada na impunidade
É importante ressaltar que a experiência histórica sempre ensina que a possibilidade da não repetição requer vigília. Impõe o embate aberto contra o negacionismo e a mentira. Provoca o exercício permanente da reinscrição no passado de acontecimentos e memórias intencionalmente ocultadas e silenciadas.
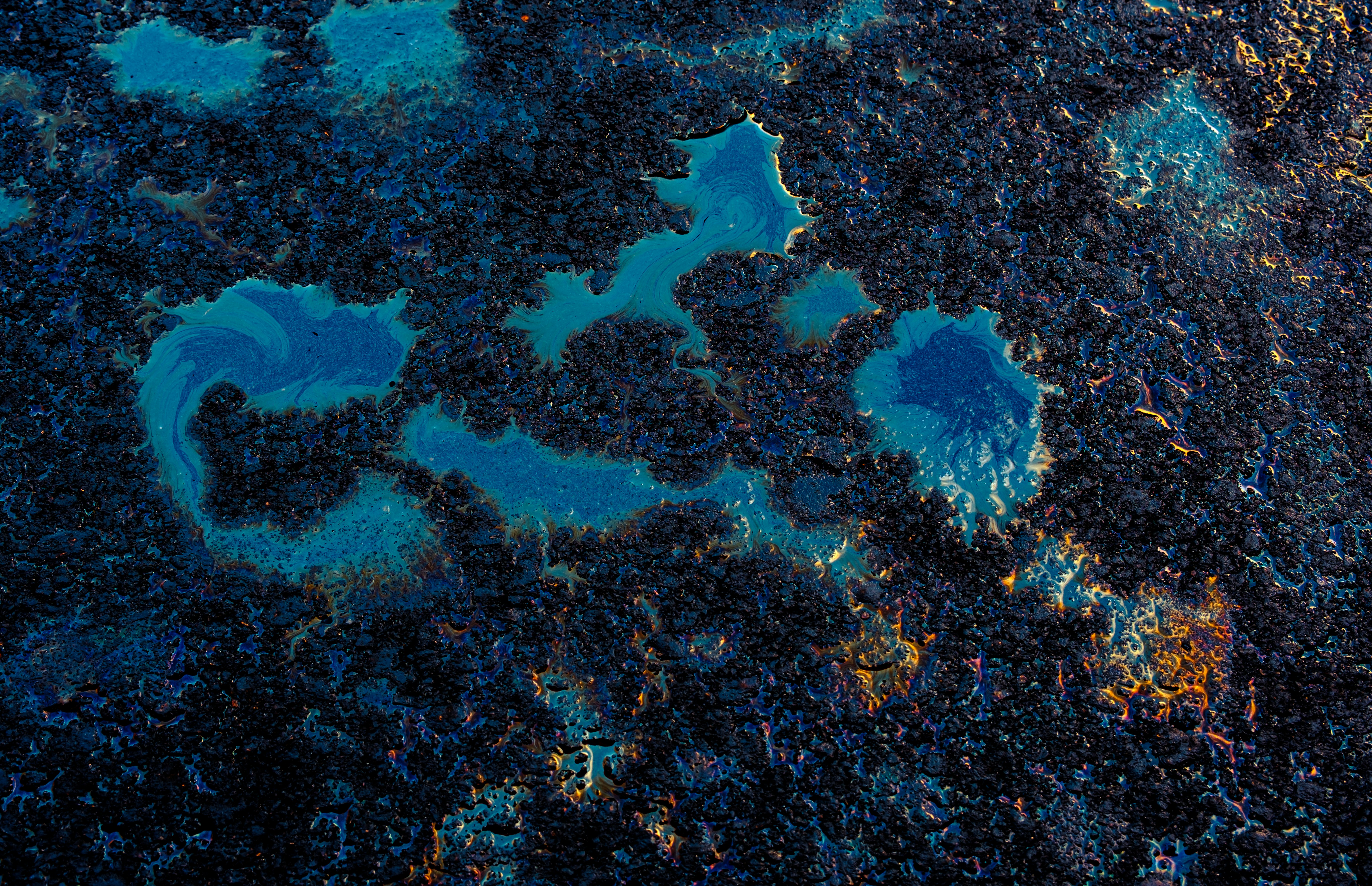
Foto: Roberto Sorin (Unsplash).
Por Luci Praun, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Márcia Costa Misi, Marcos de Almeida Matos
A publicação de Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência coincide com o momento em que o golpe de 1964, articulado localmente por militares, segmentos da sociedade civil e grupos empresariais, completa sessenta anos. Desse evento histórico, que compôs um cenário político mais amplo, no qual se inseriram os golpes que atravessaram a América Latina entre as décadas de 1950 e 1970, desdobraram-se 21 anos de ditadura.
Em 1985, na contracorrente de um processo de transição costurado pelo alto, talhado para manter impunes tanto os militares como seus cúmplices, colaboradores e beneficiários, foram publicados os resultados de uma pesquisa que se tornou referência e ficou conhecida pelo seu título Brasil: nunca mais.1
O projeto, desenvolvido clandestinamente a partir de 1979 e publicado no ano em que chegou ao fim o último governo militar, teve à sua frente a Arquidiocese de São Paulo e contou com uma equipe que se debruçou sobre os milhares de páginas que compunham os mais de setecentos processos movidos na Justiça Militar contra opositores da ditadura. Entre eles, figuraram ativistas e lideranças sindicais petroleiras.
A importância dessa pesquisa, que tornou pública parte das violações cometidas pelo Estado brasileiro e por seus agentes no contexto ditatorial, a exemplo da prática corrente e diversificada da tortura, é inquestionável. Mas o que se pretende reter nesta breve menção ao projeto é sua ideia central: trazer à tona a verdade, construindo e firmando uma memória coletiva que pavimente os caminhos para que nunca mais se repitam as violações cometidas.
Passos importantes nesse sentido foram dados tanto com a constituição da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), instituída em 1995 (e desmantelada sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro), assim como com o funcionamento, de 2011 a 2014, da Comissão Nacional da Verdade (CNV). A instalação da CNV incentivou a formação de comissões temáticas e locais, ampliou o acesso a parte dos arquivos da ditadura e viabilizou o aprofundamento de pesquisas sobre o período. Possibilitou também que o debate sobre as violações cometidas no contexto ditatorial brasileiro fosse retomado publicamente. Apesar disso, ainda que fundamentais, os avanços obtidos não foram suficientes.
Não por casualidade, em meio à indignação de muitos, à adesão de tantos outros e à indiferença da maioria, assistimos ao longo dos últimos anos às crescentes manifestações em defesa, sem dissimulações, da censura, de torturadores, do retorno à ditadura. Passamos a observar que as palavras, inicialmente soltas no ar, tendiam a se firmarem em cartazes, adesivos e faixas, conquistando adeptos pelas redes sociais e ganhando corpo nas manifestações de rua e acampamentos. Com o tempo, essas ações se converteram no engajamento em tentativas efetivas de golpe, cujo ponto alto pôde ser observado em 8 de janeiro de 2023, durante as invasões às sedes dos três poderes, em Brasília.
Todos esses acontecimentos, sabemos, não começaram com a direita brasileira mostrando, sem subterfúgios, sua cara. Não por acaso, sua projeção converge tanto com o avanço do neoliberalismo em escala global como com as particularidades da transição política no Brasil.
A defesa explícita de um retorno à ditadura, na forma e no conteúdo, passou a chamar nossa atenção, no decorrer do processo que levou Bolsonaro à presidência do país, mostrando que seu enraizamento na sociedade brasileira nunca deixou de existir. Suas raízes foram firmadas há décadas. Estão presentes nas brechas e nas habilidosas interpretações extraídas da Lei da Anistia, de 1979, utilizadas para isentar os violadores da punição; nos acordos pelo alto que garantiram, pela via das eleições indiretas, a transferência controlada do poder para um civil; no alijamento da participação política das classes trabalhadoras a despeito das inúmeras greves e mobilizações em curso no país desde o fim da década de 1970, fundamentais para o encerramento da ditadura empresarial-militar.
Foi pelo caminho do apagamento do passado, da não punição dos responsáveis, da invisibilização, da colaboração e da cumplicidade de segmentos empresariais, que se mantiveram abertas as vias para a normalização das violações de direitos. Assim, mesmo que destituída de seu propósito inicial, de silenciamento de opositores políticos, a tortura e a execução, por exemplo, mantiveram-se para muitos como prática socialmente aceita quando direcionada às camadas mais pobres da classe trabalhadora, sobretudo à população negra.
O imperativo da não repetição, da inaceitabilidade das violações, aparentemente óbvio, não é, portanto, de simples realização. Requer, ao refutarmos as violências praticadas no contexto ditatorial, trilharmos caminhos que desafiem e confrontem formas de exercício de poder que se firmaram, sob o pretexto da modernização e do desenvolvimento, apoiadas na naturalização da exploração do trabalho, das diferentes formas de opressão, das violações dos territórios ocupados por populações tradicionais e originárias, da perpetuação e acentuação das desigualdades sociais. Passados sessenta anos do golpe, ainda resta, portanto, um longo caminho a ser percorrido.
A fragilidade de uma memória social sobre os crimes da ditadura, por exemplo, tornou possível que policiais rodoviários federais se sentissem autorizados a asfixiar um trabalhador, Genivaldo de Jesus Santos, em 2022, diante dos olhos de todos, em um porta-malas de viatura. Ou que um jovem de 22 anos, Jefferson de Araújo Costa, fosse baleado e morto por um policial militar, à queima-roupa, com um disparo de fuzil, pelo simples fato de estar em um protesto contra as operações policiais no Conjunto de Favelas da Maré, em 8 de fevereiro de 2024. Ou ainda que se tornasse corriqueira a censura, por parte de governos estaduais, a obras literárias indicadas para adoção nas escolas públicas do país, como vem ocorrendo com O avesso da pele, de Jeferson Tenório.
O apagamento do passado também é visível nas violações cotidianas de direitos do trabalho; no número persistente de homens e mulheres submetidos a condições análogas à escravidão; na consolidação e na naturalização de posturas antissindicais; nas invasões e na destruição, ano a ano, dos territórios e do modo de vida dos povos originários com vistas a favorecer a atividade de mineração e extração de madeira; na recente onda de militarização do Estado brasileiro, expressa, aliás, em empresas como a Petrobras. Afinal, a lógica da impunidade anda de mãos dadas com a do não direito dos grupos e classes subalternizados.
Assim, não por obra do acaso, observamos nos últimos anos uma crescente inserção no Executivo federal de militares da ativa e da reserva, o que se aprofundou quantitativa e qualitativamente ao longo do governo Bolsonaro. Sobre essa questão específica, vale lembrar o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que identificou que, em 2020, 6.157 militares ocupavam cargos e funções civis no Executivo federal.
Conforme sistematização realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o número de membros das Forças Armadas ocupando cargos civis aumentou 193% de 2013 a 2021. A partir de 2019, observou-se, aliás, uma intensificação na concentração de militares em cargos de maior poder decisório.2
A análise pormenorizada dos dados também revelou que essa ampliação da presença militar em cargos e funções do Executivo federal, com maior relevância durante o governo Bolsonaro, ocorreu em um contexto de retração dos postos civis (-4%) e de ampliação dos postos militares (17,2%).[3] É também emblemática a presença à frente do Ministério da Defesa, durante o governo anterior, de um membro das Forças Armadas, fato não observado desde sua criação, em 1999.
A acentuação da militarização do Estado no período recente também repercutiu na Petrobras. A presença do almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, de janeiro de 2019 a maio de 2022, no comando do Ministério das Minas e Energia, ao qual a Petrobras é submetida, foi parte desse processo. Destaque-se que a pasta não era ocupada por um militar desde o governo do ditador João Figueiredo (1979-1985). Algo similar ocorreu em relação à presidência da empresa, que passou, de abril de 2021 a abril de 2022, a ser ocupada pelo general da reserva Joaquim Silva e Luna, o primeiro membro das Forças Armadas a ocupar esse cargo desde 1988.
O avanço da militarização não se manteve restrito ao Ministério de Minas e Energia e à presidência da Petrobras. Em janeiro de 2019, Carlos Victor Guerra Nagem, capitão-tenente da reserva da Marinha e amigo pessoal do ex-presidente da República foi indicado para exercer a chefia de segurança da companhia. No mesmo mês, Marcelo de Sá Dias, tenente da reserva, foi escolhido para comandar a Gerência de Inteligência da Petrobras, cargo do qual havia sido dispensado em 2018.4
Quanto à trajetória profissional de Marcelo de Sá Dias, é importante ressaltar seu envolvimento, junto com outros dois funcionários da Petrobras e sete policiais civis, em violação de sigilo funcional, conforme apurou o Ministério Público de São Paulo em 2010. A denúncia destacou que os agentes da empresa mantinham um sistema de colaboração com o Departamento de Identificação e Registros Diversos (Dird) da Polícia Civil para obtenção de informações sobre os antecedentes criminais de pessoas interessadas em trabalhar na Petrobras. As consultas ilegais teriam sido feitas de 1999 a 2009. Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, os procedimentos resultaram, somente de 2007 a 2009, em 40 a 50 mil consultas por ano. Como contrapartida, a empresa fornecia materiais de escritório ao Dird, custeava passagens aéreas para traslado de presos entre os estados, além de sortear brindes para os agentes da Polícia Civil.5
O episódio compõe o emaranhado de ações comuns no período da ditadura, quando a Divisão de Informações (Divin) da empresa acionava diferentes órgãos de Estado para vigiar, monitorar e perseguir seus trabalhadores e potenciais empregados. O retorno do principal acusado pelas práticas de espionagem à chefia da Gerência de Inteligência da Petrobras em 2019 evidencia o alto preço que recorrentemente nos é cobrado em razão da condescendência frente aos crimes perpetrados por militares, empresas, agentes públicos e privados ao longo da ditadura brasileira.
Em síntese, as violações do passado não ficaram no passado, entre outras razões, porque não conseguimos construir, tal como destacou Jair Krischke em evento realizado em São Paulo,6 uma memória coletiva dos trabalhadores sobre suas lutas, seus enfrentamentos e suas conquistas. O nunca mais, apesar de manter sua importância e vigor, fragiliza-se em termos de efetividade, porque não tem a força que resulta da compreensão crítica e socialmente referenciada do passado e de sua incorporação à memória coletiva. Assim, assistimos, por um lado, ao espraiamento e à naturalização de condutas que violam direitos fundamentais; por outro, às vivências reiteradas da violência. Duas situações vinculadas a contextos distintos são exemplificadoras.
A primeira ocorreu em 20 de novembro de 2022, quando parte da equipe que desenvolveu a pesquisa que dá origem a este livro foi recebida, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no apartamento de um dos entrevistados. Nas conversas de cozinha, sempre muito ricas, escutamos o relato de sua esposa sobre o sofrimento vivenciado por seu companheiro durante alguns encontros de família. Neles, parentes cada vez mais envolvidos pela narrativa negacionista da direita brasileira colocavam em dúvida a perseguição política, a tortura e o sofrimento por ele vivenciado no pós-golpe de 1964.
A segunda refere-se ao sofrimento que pode ser observado quando conversamos com mulheres e homens adoecidos pelo trabalho. É comum que cheguem às entrevistas munidos de relatórios médicos e exames de imagem. Precisam se desvencilhar dos estigmas, provar que não são “preguiçosos” e “oportunistas”. Precisam provar que falam a verdade quando relatam sobre as dores de um corpo dilacerado pela violência e pelas violações de direitos vividas no trabalho.
Os dois casos, aparentemente dissociados, remetem a experiências traumáticas reiteradas pela obliteração da verdade, pelo descrédito social e convenientemente construído por aqueles que, ao deterem o poder, buscam lapidar diariamente uma história cuja força não está nos fatos, mas no silenciamento das lutas e vozes dissonantes aos interesses hegemônicos.
Itamar Vieira Junior, em Torto arado, ao descrever a tomada de consciência dos personagens sobre o sistema de exploração e opressão a que se encontravam submetidos, resumiu a experiência em uma frase que guarda força similar à do nunca mais: “O muro do medo caiu e não houve quem o pudesse erguer outra vez”.7 É o que desejamos: que não haja quem o possa erguer novamente. Mas temos aprendido que, para que os muros não sejam reerguidos, uma outra história sobre a ditadura precisa ser contada. E para que essa outra história possa ser contada, a tarefa de jogar luz nas motivações e sentidos do golpe de 1964 (e nas tentativas posteriores), qualificando seus responsáveis e punindo-os, é fundamental.
Petrobras e petroleiros na ditadura, que está organizado em quatro etapas, é parte desses esforços e não por coincidência compõe o acervo da coleção Mundo do Trabalho, da Editora Boitempo.
A primeira parte, “Origens: a empresa e seus trabalhadores”, é composta de dois capítulos.
O primeiro, “Breve histórico das políticas petrolíferas: a Petrobras como um vetor da contrarrevolução preventiva brasileira (1953-1988)”, dedica-se a traçar um panorama da trajetória da empresa desde sua fundação, em 1953, até a década de 1980, quando encerra-se o período ditatorial. A abordagem escolhida foge, entretanto, daquelas que se organizam cronologicamente, priorizando aspectos relacionados à expansão da empresa e a seu papel no setor petrolífero. A opção adotada buscou situar a construção e consolidação da Petrobras no âmbito de um projeto de industrialização que se realiza na periferia do capitalismo. Seu impulso, a partir dos anos 1930, carregou consigo tanto as particularidades das classes dominantes locais e de suas frações, forjadas em meio a suas disputas internas, travadas com vistas à composição do bloco no poder, como as singularidades da relação que esses segmentos estabeleceram com a classe trabalhadora e com outros grupos sociais subalternizados.
O contexto de fundação da empresa, conforme abordado pelo capítulo, também é atravessado pelo ambiente de guerra fria, o que sem dúvida gerou implicações locais importantes, a exemplo da penetração, tanto no setor militar como em segmentos do empresariado, da Doutrina de Segurança Nacional (DSN).
A importância atribuída à Petrobras para o projeto de desenvolvimento local, observada de diferentes perspectivas e interesses, colocou a empresa no centro das disputas que culminaram com o golpe de 1964. A análise sobre a atuação dos diferentes grupos de interesse nos anos que antecedem o golpe, proposta pelo capítulo, sobretudo aqueles representativos das classes dominantes, evidencia as motivações de classe do projeto ditatorial e sua não hesitação frente à eliminação de qualquer movimentação social que erguesse barreiras ao avanço da exploração do trabalho e à potencialização dos ciclos de acumulação de capital. Esse fio condutor certamente fornece outra perspectiva à trajetória da empresa e a seu engajamento ao longo dos governos militares.
A análise que privilegia o contexto da movimentação das classes dominantes, de suas frações e das relações que estas estabelecem com os projetos de desenvolvimento local e a Petrobras cede espaço, no capítulo 2, “As primeiras gerações de petroleiros: vida e trabalho, nacionalismo e defesa da estatal”, para o olhar sobre as experiências das primeiras gerações de petroleiros. Trata-se de um capítulo que privilegia as histórias de vida e trabalho da geração que atuou nas obras de construção das refinarias e/ou durante o início das atividades produtivas nessas unidades.
Essas histórias, que resultaram majoritariamente de entrevistas realizadas pela equipe de pesquisa, são contextualizadas e enriquecidas ao longo do capítulo pela pesquisa documental. É por esse caminho que o capítulo vai evidenciando a percepção desses trabalhadores sobre o contexto em que se encontravam inseridos, as lutas que travaram na busca por melhores condições de vida e trabalho, o envolvimento e os aprendizados com a construção das primeiras entidades representativas da categoria, e também como essas experiências cotidianas foram forjando sentidos particulares à bandeira do nacionalismo, forte no ambiente político da época e com bastante repercussão na classe trabalhadora e entre suas representações políticas e sindicais. Conforme anuncia o capítulo, “enganam-se aqueles e aquelas que enxergam esse processo sem as mediações impostas pelas condições de vida e trabalho”. A aparente adesão incondicional ao nacionalismo vai se apresentando, tanto nos depoimentos como nos registros documentais, “fortemente atravessada pelas reivindicações e lutas constantemente travadas pela categoria”.
A segunda parte do livro, “Empresa estratégica: controlar a Petrobras, derrotar os petroleiros”, é constituída pelos capítulos 3 a 10. Trata-se de um conjunto de textos que mergulham nos acontecimentos desencadeados na empresa e sobre seus trabalhadores e trabalhadoras a partir do golpe.
Os leitores perceberão que no interior do período abordado foram considerados três ciclos: 1964, 1967-1969 e 1979-1983. Essa demarcação permitiu observar que o descontentamento entre os petroleiros tanto produziu momentos de recrudescimento acentuado da mobilização sindical como esteve marcado pela ampliação da repressão, expressa nas demissões, prisões, intervenção nas entidades sindicais e intensificação das formas de controle e perseguição política. Esses momentos são tratados de modo mais atento nos capítulos 3, 6 e 10.
O capítulo 3, “Golpe de 1964 e ‘operação limpeza’ nas unidades da Petrobras”, dedica-se especialmente ao ano de 1964. Descreve e analisa as ações desenvolvidas no interior da empresa, denominadas pelos militares como “operação limpeza”. São destacadas as conexões estabelecidas entre as instâncias de comando da Petrobras e as ações desencadeadas pelas Forças Armadas, traduzidas, do ponto de vista dos trabalhadores, em investigações sumárias, demissões em massa, prisões e formas diferenciadas de tortura.
Em seis meses, período em que funcionou a Comissão Geral de Investigação (CGI) da Petrobras, pelo menos 3 mil petroleiros foram submetidos à investigação, o que resultou na abertura de pelo menos 1.500 Inquéritos Policiais Militares (IPM) e em mais de 500 demissões. A existência de locais dentro da empresa destinados à prisão e às práticas de tortura, registrada no capítulo, consta do relato dos entrevistados pela equipe. É parte desse primeiro ciclo de repressão a intervenção nos sindicatos da categoria e o avanço de um processo de militarização da empresa que se diferencia daquele existente no período que antecede ao golpe.
As especificidades da presença de militares na estrutura da empresa a partir do golpe de 1964 são apresentadas e analisadas no capítulo 4, “Sentidos da militarização da Petrobras no contexto da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Conforme analisado no capítulo, a compreensão sobre o avanço e as características da militarização da empresa no contexto forjado pelo golpe não pode prescindir da observação das movimentações, em curso desde a década de 1940, no interior das Forças Armadas e da crescente penetração em seu seio da DSN. O avanço da Doutrina, que ocorre sobretudo no contexto das atividades da Escola Superior de Guerra (ESG), fundada em 1949, inspira-se inicialmente no modelo de formação militar estadunidense, porém encontra sua tradução local nas particularidades de uma formação capitalista que associa segurança a desenvolvimento. É a partir da adesão à doutrina francesa, entretanto, forjada no contexto das ações militares de combate às lutas por independência travadas nas colônias no pós-guerra, que se consolida, em meio à acentuação da Guerra Fria, o caminho para a construção da noção de “inimigo comum”, bastante evidente nas elaborações e ações das Forças Armadas brasileiras. O perfil estatal, junto com o fortalecimento da DSN, singulariza a militarização da Petrobras.
A articulação entre DSN e projeto de desenvolvimento esteve, por exemplo, nos fundamentos do avanço de atividades de empresas, nacionais e estrangeiras, em territórios indígenas. Lastreou também os planos econômicos e as políticas salariais dotadas pelos governos militares, fornecendo as bases para relações laborais ancoradas na acentuação da exploração do trabalho em associação à repressão política.
Esse elo encontra tradução na íntima e cotidiana conexão entre a empresa e os órgãos de repressão, materializando-se a curto, médio e longo prazo em uma política de pessoal e regime de trabalho estruturados com base no cerceamento à liberdade de expressão e à organização política e sindical. Esses aspectos, sobretudo os relacionados à estrutura de repressão política erguida no interior da empresa, são tratados de forma detalhada no capítulo 5, “Nem episódicas, nem acidentais: ditadura brasileira, estrutura repressiva e violações de direitos na Petrobras”.
Essa estrutura, que se constituiu como uma porta aberta às diferentes formas de violação de direitos dos trabalhadores da Petrobras, de suas subsidiárias e prestadoras de serviços, alcançou suas vítimas dentro e fora dos locais de trabalho. Esse fator impôs a uma parcela dos petroleiros, assim como a seus familiares, a reiteração da violência na forma do desemprego prolongado, resultante da vigilância compartilhada entre empresas e órgãos de repressão.
Práticas como essas já se encontravam bastante consolidadas de 1967 a 1968, momento em que ganhou forma, convergindo com uma onda de mobilizações que se alastrou em diferentes países, um importante ciclo de resistência à ditadura brasileira. A participação da categoria petroleira nesse ciclo de mobilizações, que tem como motivação importante a luta contra o arrocho salarial, é abordada no capítulo 6, “Ciclo de lutas de 1967-1968, recomposição da ação sindical petroleira e seus desfechos no pós-AI-5”.
O capítulo destaca como o restabelecimento dos pleitos eleitorais sindicais abriu caminho, a partir de 1967, para iniciativas que visavam à retomada das entidades de representação de classe e das greves da categoria. A fundação da Federação Nacional Livre dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo (Fenape), deliberada em encontro que reuniu lideranças petroleiras, em julho de 1968, em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi parte desses esforços interrompidos por uma nova onda de prisões e demissões, cujo ponto alto ocorreu com a promulgação do Ato Institucional no 5.
Um aspecto específico das alterações impostas ao direito do trabalho, viabilizadas em função do cerceamento da liberdade sindical, é tratado no capítulo 7, “O manejo do direito pela ditadura empresarial-militar: o caso do FGTS na Petrobras”, em que são reunidas evidências da ação da empresa tanto para se livrar de trabalhadores prestes a completar o tempo de trabalho que lhes garantia a estabilidade no emprego como para pressionar os demais a aderirem ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dispositivo legal instituído pela Lei no 5.107, em 13 de setembro de 1966, que viabilizou ampla rotatividade da força de trabalho brasileira em associação ao rebaixamento salarial e perda de direitos.
Outro aspecto importante, que evidencia as diferentes traduções do entrelaçamento entre relações de trabalho e as formas de opressão no contexto do avanço da repressão política, refere-se à perseguição de trabalhadores homossexuais pela empresa. Como resultado de pesquisa junto à série de documentos que abriga prontuários e dossiês de petroleiros, o capítulo 8, “Perseguição a trabalhadores homossexuais pela Petrobras durante a ditadura”, evidencia os mecanismos adotados pela empresa, inserindo-os no plano das “políticas oficiais e clandestinas de controle das sexualidades pelo governo ditatorial”.
Chama a atenção, no caso da Petrobras, o engajamento dos agentes da Divin em ações que envolviam desde o monitoramento de trabalhadores nos locais de moradia ao acesso a vizinhos de moradia na busca por informações sobre a vida privada, com repercussões dessas práticas de espionagem na vida profissional dos investigados. O resultado contempla tanto a negativa de contratações, promoção ou designação para cargos de chefia como casos de demissão.
O controle e a repressão presentes no cotidiano do trabalho se aproximam do que o historiador Murilo Leal conceitualizou como um novo regime fabril. O capítulo 9, “Tessituras da colaboração empresarial-militar: regime fabril, comunidades de informação e listas sujas”, apoiando-se nesse conceito, avança no sentido de estabelecer conexões entre a política de pessoal desenvolvida pela empresa, para a qual a estrutura de repressão montada internamente tem centralidade, e as formas embrionárias e institucionalizadas de funcionamento das comunidades de informações empresariais. A documentação acessada, para além de evidenciar a presença e por vezes o protagonismo da Petrobras nessas comunidades, demonstra como é parte dessa dinâmica a construção da figura do “subversivo” e “indesejado”. Aos olhos dos agentes da ditadura, sejam eles públicos, sejam eles privados, essa construção coloca-se a serviço de “justificar” o que passou a ser denominado, no caso da Petrobras, como “limpeza da empresa” e processo de “profilaxia moral”. O capítulo traz à superfície a interlocução entre a Petrobras e diversas outras empresas com vistas à produção e à disseminação das listas sujas, “produto” central das comunidades de informação.
A pesquisa também pôde observar, conforme é tratado no capítulo 10, “Punhos erguidos: a resistência avança e a repressão continua (1978-1983)”, a crescente participação da categoria petroleira na movimentação social que foi criando, a partir da década de 1970, as bases para a fragilização e o fim da ditadura. Essa participação, que inicialmente contou com mobilizações aparentemente localizadas, parte delas relacionadas à denúncia de condições de trabalho nocivas à saúde e a protestos na entrada dos restaurantes das refinarias, aos poucos foi se tornando mais visível.
No avançar da década de 1970, contagiados pelo movimento grevista do ABC Paulista, os petroleiros também retomam suas mobilizações contra as demissões, em torno das campanhas salariais e desenvolvem ações criativas e eficazes como as que promoviam dias de esquecimento coletivo dos crachás, tumultuando o acesso às unidades e atrasando o início da jornada de trabalho. Esse caldo de mobilizações, ainda que acompanhado de perto pelos agentes da repressão, culminou na construção, em 1983, de uma greve da categoria. A paralisação, ainda que restrita a duas refinarias e fortemente reprimida, marcou um novo ciclo de lutas do sindicalismo petroleiro e do fortalecimento das lutas pela derrubada da ditadura.
A terceira parte do livro, “Fome de petróleo, não importa onde”, é dedicada a três aspectos específicos resultantes da atuação da empresa. O primeiro deles, desenvolvido no capítulo 11, “A fome de petróleo: expansão da Petrobras, repressão e o vínculo com capitais privados”, busca elucidar o lugar ocupado pela empresa no âmbito do modelo de acumulação então vigente, evidenciando aspectos da trajetória da empresa e de seu corpo diretivo que indicam que as condutas adotadas ao longo do período ditatorial beneficiaram economicamente não somente a Petrobras, mas também parte de seus diretores.
As bases políticas e econômicas que fomentaram a expansão da empresa também a colocam no cenário de crimes ambientais e de violações contra populações indígenas.
No capítulo 12, “Vila Socó e Pojuca: violações contra comunidades urbanas vulneráveis”, são apresentadas as circunstâncias e consequências de dois incêndios de grande repercussão. O primeiro, que tem início na manhã do dia 31 de agosto de 1983 e assola a comunidade de Pojuca, localizada na Região Metropolitana de Salvador, Bahia, resulta do descarrilamento de um trem com 22 vagões que transportava combustíveis da Petrobras. O incêndio deixa um saldo de 99 mortos e 100 feridos. O segundo episódio, com maior repercussão na imprensa, ocorreu em 1985, em Vila Socó, comunidade constituída nos anos 1970 no entorno da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada no município de Cubatão, na Baixada Santista, em São Paulo.
No caso da Vila Socó, dada a projeção da ocorrência, a Petrobras agiu rapidamente. Valeu-se do fato de o incêndio ter se desenvolvido em área caracterizada como de segurança nacional. Tal fato, conforme documentação acessada pela pesquisa, foi utilizado para limitar o processo de investigação, o que faz com que até hoje o número de óbitos oficialmente admitido seja questionado. Possibilitou também que a “resolução” do caso fosse acelerada ao máximo, concomitantemente à não admissão de responsabilidade por parte da empresa tanto em relação aos danos à população da Vila Socó como em relação aos danos ambientais.
As atividades da empresa em territórios indígenas são abordadas no capítulo 13, “Violações de direitos humanos perpetradas pela Petrobras na Terra Indígena Vale do Javari, de 1972 a 1985”. Os pesquisadores responsáveis por esse recorte da investigação se detiveram principalmente sobre a atuação das equipes sísmicas (isto é, equipes mandadas para as florestas da região para a realização de prospecção de petróleo e gás), operadas sob contrato de risco com a Petrobras pelas empresas Instrumentos Técnicos e Pesquisas Ltda., Seiscom Delta Inc., Adalco Geofísica Ltda. e Companhia Brasileira de Geofísica. A investigação observou as repercussões dessas atividades sobre territórios de ocupação tradicional dos povos indígenas matsés, matis, korubo, marubo, tsohom-dyapa e kanamari, além de povos isolados dos rios Jutaí, Jandiatuba e Itaquaí.
Encerram o livro dois capítulos que compõem sua quarta parte, “Lições do passado: olhar o presente, mudar o futuro”.
Ao dar visibilidade às ações da empresa no contexto ditatorial, tornou-se inevitável incorporar o debate sobre os impactos ambientais da atividade petrolífera. O reconhecimento da importância desse debate motivou o convite ao professor Luiz Marques, do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para que contribuísse com um capítulo sobre o uso dos combustíveis fósseis e seus desdobramentos na crise climática. Luiz Marques, a quem agradecemos muito a gentileza de contribuir com este livro, é autor, entre outras publicações, de Capitalismo e colapso ambiental, publicado pela Unicamp, em 2015, obra que obteve, em 2016, o Prêmio Jabuti e o segundo lugar no Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu). Em 2023, publicou O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência (Elefante). No presente livro, assina o capítulo 14, “Não há transição energética numa sociedade do crescimento”. Apesar de não tratar diretamente da atuação da empresa no contexto ditatorial, o título nos remete aos slogans repetidos ao longo dos governos militares, que reverberam até hoje nas vinculações comuns entre a construção de um “país do futuro” e um modelo de desenvolvimento que, movido pela lógica da exploração sem limites, tanto do mundo do trabalho como do mundo da natureza, deixa sempre para trás um rastro de destruição e miséria.
É também nesse contexto que se insere o capítulo 15, “A necessidade do debate jurídico na luta por reparações no campo da justiça de transição”. Tomando como ponto de partida as evidências de responsabilidade da empresa, o capítulo avança no debate sobre os sentidos e alcances das políticas de reparação. É destacado, portanto, o papel cumprido no Brasil pela Comissão de Anistia, criada pela Lei no 10.559/2002, que como parte das mobilizações promovidas por movimentos de direitos humanos, da amplitude dos “entendimentos firmados no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e de processos de transição em países vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai”, contribuiu para rupturas na perspectiva que associa reparação à indenização econômica. Essa perspectiva, tomada de forma ampliada, tende a viabilizar a adoção de medidas que consideram, no âmbito da justiça de transição, articulações entre políticas de reparação e imperativos da memória, verdade e justiça. Com o foco na Petrobras, o capítulo também avança na sistematização das possíveis violações cometidas pela empresa, dos diferentes grupos sociais por ela atingidos, propondo medidas reparatórias preliminares.
Não há dúvida de que o conteúdo a que os leitores terão acesso apresenta apenas uma parte, ainda que consistente e relevante, das violações cometidas pela empresa. Um exemplo de aspectos que merecem aprofundamento em pesquisas futuras refere-se às atividades da empresa em territórios indígenas. Outro, à sua colaboração em operações das Forças Armadas.
Sobre esse último aspecto, no capítulo 9 é mencionada a presença de prepostos da Petrobras nas dependências do Dops de São Paulo, local conhecido por práticas criminosas de tortura contra opositores do regime militar. No capítulo 14, além dessa menção, há referência à participação da empresa na Operação Pajussara, em 1971, na Bahia, que resultou no assassinato de Carlos Lamarca e Zequinha Barreto. Consta de Relatório do Ministério do Exército a utilização de um caminhão da empresa nas duas fases dessa operação. O uso de infraestrutura da Petrobras pelas Forças Armadas também é citado, em outras situações, no capítulo 9.
A documentação acessada atesta que a empresa também acompanhou de perto o desenvolvimento da Operação Cajueiro, deflagrada em fevereiro de 1976, em Sergipe, tendo como alvo militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sobre essa operação, que visava inicialmente à prisão de 36 pessoas, é preciso destacar o caso de Milton Coelho, petroleiro, sequestrado de sua casa, levado ao 28o Batalhão de Caçadores e torturado8. A tortura rendeu ao trabalhador, entre outras sequelas, uma cegueira permanente. Os familiares só tiveram notícia de seu paradeiro dez dias após efetuada a prisão. Sua permanência no cárcere perdurou por cinquenta dias.
Sobre o caso, chama a atenção tanto o acompanhamento por parte da Petrobras como a orientação, desde 25 de março de 1976, de que a ausência do petroleiro ao trabalho fosse utilizada, “quando em liberdade ou condenado”9, para aplicação de medidas previstas na CLT. Em junho de 1976, a Divin emitiu documento declarando “contraindicada” sua permanência na empresa10.
Além de apontar para a necessidade de continuidade da pesquisa, de forma a ampliar a compreensão sobre a participação e a responsabilidade dos grupos empresariais nas ações do Estado brasileiro no contexto em questão, é também pertinente registrar que se por um lado resta uma quantidade grande de documentos a ser explorada, por outro o processo de pesquisa, sobretudo no acervo do Fundo da Divisão de Informações da Petrobras, revelou o tempo todo que a disponibilização do material foi precedida de seleção.
O acervo, que é constituído majoritariamente por documentos emitidos pela estatal, não contempla os desdobramentos das solicitações e demandas empreendidas pela empresa. Encontra-se ausente dele, por exemplo, a maior parte da correspondência gerada em resposta à execução dos chamados “planos de busca”, difundidos pelo órgão de informação da Petrobras e endereçados a outras instâncias, públicas e privadas, copartícipes da rede de repressão política então instituída. Além disso, muitas vezes os documentos mencionam, por exemplo, anexos que não constam dos arquivos disponibilizados.
Outro desafio com o qual a pesquisa deparou foi de ordem quantitativa, já que o Fundo da Divisão de Informações da Petrobras, disponível no Arquivo Nacional, ainda que incompleto, abriga grande quantidade de documentos que versam sobre diferentes aspectos da estrutura e das ações desencadeadas pelo órgão de repressão instituído pela empresa.
A quantidade de material disponível e a abrangência territorial das atividades da empresa levaram à construção de um percurso metodológico que impôs escolhas. Frente ao fato de se tratar de uma empresa nacional, com atividade nos mais distintos locais do território brasileiro, foi feita a escolha por se investigar prioritariamente as unidades da empresa localizadas nos seguintes estados: Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Tal opção se justificou em razão de esses estados comportarem a sede da companhia, o maior número de trabalhadores e trabalhadoras vinculados à empresa em abril de 1964; as refinarias mais antigas; o maior número de enfrentamentos entre sindicatos e os órgãos de repressão; e acervos do Dops disponíveis, a exemplo do abrigado no Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp).
Quanto aos acervos das entidades sindicais, muito embora pudessem fornecer, à primeira vista, um conjunto de evidências para a pesquisa, efetivamente guardavam consigo um número limitado de fontes concernentes ao período. Tal fato se deve à própria dificuldade que as agremiações operárias têm em gestar e executar uma política de guarda e conservação de seus acervos, mas também às constantes invasões e ao confisco de materiais realizados pelas autoridades policiais durante a ditadura, que destruiu parte importante do acervo sindical relacionado ao período.
No que se refere ao recorte de pesquisa sobre a atuação da Petrobras e de empresas subsidiárias no vale do Javari (oeste amazônico, no estado do Amazonas), é importante destacar que esse recorte temático se beneficiou de esforços de pesquisa anteriores, para as quais os indigenistas e servidores da Funai Bruno da Cunha Araújo Pereira (in memoriam), Bernardo Natividade Vargas da Silva e Vitor Cerqueira Góis já vinham efetuando entrevistas e sistematizando informações. Essas entrevistas, realizadas entre 2018 e 2022, com ex-trabalhadores das equipes sísmicas ou antigos funcionários da Funai, foram cedidas para esta pesquisa.
No caso das entrevistas realizadas com os petroleiros, sempre que possível os depoimentos adotaram como ponto de partida a escuta sobre a trajetória de vida de cada um, avançando em relação a temas relativos à inserção no mundo do trabalho e às experiências relacionadas à Petrobras. Foram também realizadas entrevistas com participantes cujo depoimento mostrava-se relevante à pesquisa, conforme menções registradas na seção de agradecimentos.
Por fim, é importante ressaltar que a experiência histórica sempre ensina que a possibilidade da não repetição requer vigília. Impõe o embate aberto contra o negacionismo e a mentira. Provoca o exercício permanente da reinscrição no passado de acontecimentos e memórias intencionalmente ocultadas e silenciadas. Passados sessenta anos, ainda há muito o que se conhecer e fazer não somente em relação ao período que circunscreve formalmente a ditadura brasileira (1964-1985), mas também em referência às marcas deixadas por um processo de transição forjado com base na impunidade.
Notas
1 Arquidiocese de São Paulo, Brasil: nunca mais (Petrópolis, Vozes, 1985).
2 Flávia de Holanda Schmidt, Presença de militares em cargos e funções comissionados do Executivo Federal (Brasília, Ipea, 2022).
3 Idem.
4 Poder360, Bolsonaro indica “amigo de longa data” para gerência de Segurança da Petrobras, 11 jan. 2019; disponível on-line; Bolsonaro indica outro militar para gerência da Petrobras, 11 jan. 2019; disponível on-line.
5 Ministério Público do Estado de São Paulo, Inquérito Policial no 050.09.061470-4, 2010.
6 Seminário “A justiça de transição no Brasil e a luta por reparação”, realizado em 27 de outubro de 2023, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
7 Itamar Vieira Junior, Torto arado (São Paulo, Todavia, 2019).
No ano em que se completam 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, chega às livrarias a obra Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, coletânea que aborda a relação entre a Petrobras e a ditadura no país. Fruto de investigação realizada ao longo dos últimos anos, o livro aprofunda e amplia o pouco que sabemos sobre a colaboração da maior empresa do Brasil com o brutal regime de exceção que imperou no país durante 21 anos.
“Estamos completando sessenta anos do Golpe Militar de 1964 e até hoje descobrimos fatos horripilantes, como ocorreu com a repressão na Petrobras, que esse excelente estudo esmiúça tão ricamente.”
– RICARDO ANTUNES,
professor titular da Unicamp
Na próxima sexta-feira (25/10) às 14h, não perca o debate com Carlos Eduardo Soares de Freitas, Claudia Costa, Luci Praun, Vitor Cerqueira Góis, na TV Boitempo:


Deixe um comentário