Por que Israel quer calar o mundo?
Pensadores judeus antissionistas acertam ao destacar que defensores de Israel transformaram a acusação de antissemitismo em arma de chantagem. Cabe seguir afirmando que a chave da questão palestina é a derrota do sionismo e a garantia do direito de autodeterminação do povo palestino.
Foto: hosny salah (Pixabay).
Por Berenice Bento
A senhora me contava lentamente a história da sua família. Estávamos rodeadas de objetos-memória, e uma chave grande, escura, de ferro se destacava. “É a chave da casa dos meus pais. A casa está igualzinha, em Jerusalém.” Era agosto de 2015, quando fiz minha primeira viagem à Palestina.
A senhora que me doava sua história tinha 5 anos em 1947, quando viu sua casa ser invadida por sionistas. A chave foi um dos poucos objetos que a família teve tempo de recolher. “Por que a chave?” Ela sorriu e disse: “A gente acreditava que ia voltar“. Ela vivia havia 63 anos em um campo de refugiados a poucos minutos da casa da sua família.
Estávamos em uma sala apertada e fazia muito calor. A distância entre as casas era mínima. A geografia do campo de refugiados Dheisheh, na Cisjordânia, não diferia das outras que conheci: ruas estreitas, janelas quebradas, algumas com marcas de tiros disparados por soldados israelenses, e o tempo infinito de espera pelo dia do retorno para casa.
A limpeza étnica de 1947-48 levou à expulsão de cerca de 750 mil palestinos de suas terras e a destruição de 511 aldeias (Pappé, 2016, 2022; Masalha, 2021; Khalidi, 2013; Khalidi, 2022). Os métodos variavam, da ameaça ao massacre. Nesse período, 31 deles foram registrados, como o de Deir Yassin, onde mais de 200 pessoas foram assassinadas em 24 horas.
A maior parte dos palestinos passaram a ter uma nova identidade: apátridas e refugiados. Atualmente, segundo a ONU, são 58 campos de refugiados palestinos espalhados no Líbano, na Jordânia, na Síria, na Cisjordânia e em Gaza.
Ao contar sua história e demandar o direito de retornar à sua casa, um direito reconhecido pela resolução 194 da ONU, de dezembro de 1948, essa senhora estaria cometendo um crime? Seria possível ela demandar reparação sem antes apontar o Estado de Israel como o responsável por sua não vida cidadã?
Entre os sionistas, no entanto, ela pode ser vista como criminosa: a senhora palestina é antissemita porque exige o cumprimento da resolução 194 e ousa acusar o país por sua condição de pessoa desprovida de direitos, o que termina por transfigurar os palestinos e seus aliados em antissemitas.
Israel passou a tomar para si a totalidade da representação judaica e, ao fazê-lo, busca igualar todas as críticas às suas políticas coloniais e genocidas em expressão do antissemitismo. É como se o Estado brasileiro passasse a nos criminalizar porque afirmamos que há um genocídio continuado contra a população negra no país.
A ação judicial da Conib (Confederação Israelita do Brasil) contra Breno Altman, que pede que o jornalista, um judeu antissionista, seja suspenso de redes sociais e impedido de criticar publicamente o Estado de Israel, é um dos muitos exemplos dessa grave ofensiva.
Os sionistas são como prestidigitadores que tentam criar ilusões — não com as mãos, mas com palavras. Genocídio? Não, “direito de defesa”. Limpeza étnica? Não, “transferência”. Este conceito, aliás, se tornou central para negar o colonialismo. A senhora que me recebeu, por exemplo, teria sido transferida, não expulsa.
O mesmo léxico retorna agora, quando lideranças sionistas planejam o que fazer com a população sobrevivente de Gaza. A proposta do ministro de Segurança Nacional recupera a tradição dos seus antepassados: Itamar Ben-Gvir defendeu que os países árabes recebam os palestinos expulsos de Gaza. Isso estabelece uma linha de continuidade entre o passado e o presente.
O projeto colonial sionista só estará concluído quando não houver mais a presença humana de palestinos, quando o mantra dos prestidigitadores sionistas (“não existe povo palestino”) se concretizar.
Afirmar que a “Palestina era uma terra sem povo” e que os conflitos entre judeus e palestinos atravessam os tempos (“sempre foi assim”) é uma construção ficcional que não resiste a um parágrafo.
Em 1870, por exemplo, o escritor português Eça de Queiroz visitou a região. Em suas descrições sobre a cidade velha de Jerusalém, o cotidiano é descrito como efervescente e compartilhado entre armênios, muçulmanos, cristãos e judeus. As cenas gravadas pelos irmãos Lumière em 1896 também registram uma Palestina que fervilhava de vida. A chegada dos colonos europeus sionistas pôs fim a uma experiência secular de coabitação.
O empreendimento sionista busca retirar dos palestinos o mínimo de autoridade moral na resistência à colonização da sua terra e deturpa a luta anticolonial dos nativos, a considerando um indicador de ódio a todos os judeus.
Nesse sentido, as acusações de que os palestinos promoveram uma campanha de terror antissemita desde a chegada dos primeiros colonos não têm fundamento histórico. Conforme apontou o historiador Ilan Pappé, “os diários dos primeiros sionistas […] estão repletos de anedotas que revelam como os colonos eram bem recebidos pelos palestinos, que lhes ofereceram abrigo e, em muitos casos, ensinavam-lhes a cultivar a terra. Apenas quando se tornou evidente que os colonos não estavam lá para viver ao lado da população nativa, mas em seu lugar, teve início a resistência palestina” (2022).
As falsas acusações sionistas parecem um tipo de projeção, no outro, daquilo que se é. O fundador do Estado de Israel, Ben-Gurion, cumprindo fielmente a herança europeia de tratar os nativos como não humanos, chegou a afirmar que os trabalhadores judeus eram “caracterizados como o sangue saudável que imunizaria a nação contra a morte e a podridão” (Pappé, 2022).
Para assegurar títulos de propriedade na Palestina, sionistas afirmavam ter vínculos históricos e morais com a terra, garantidos pela memória de pertencimento. Fico imaginando como é possível que uma colona húngara, como a ex-primeira ministra de Israel Golda Meir, que chegou à Palestina aos 23, possa acreditar que portava na mala uma superioridade moral que a autoriza a expulsar os nativos da terra. Uma autoridade superior à senhora da chave que me disse: “Toda a nossa memória está lá. Lá meus pais se casaram, lá eu nasci. Meus avós estão enterrados lá. Ainda me lembro das oliveiras”.
O não reconhecimento da humanidade dos palestinos é a única possibilidade de concretização dessa fraude histórica.
Meir se antecipou nas ações às palavras do atual ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que, com uma calma congelante, afirmou em 9 de outubro: “Estamos lutando contra animais”. A declaração se seguiu ao bloqueio total de água, comida e medicamentos em Gaza.
Seria o sionismo uma ideologia que cumpre o que promete, ser a alma política do povo judaico? O que dizem sobre isso os israelenses que clamam pelo boicote a Israel, considerado uma ferramenta de pressão contra suas políticas de segregação e de genocídio?
E as mobilizações gigantescas nos EUA, em que judeus gritam “não em nosso nome”, desautorizando Israel a seguir a matança? E a crescente adesão de judeus brasileiros que denunciam, sem medo, os crimes sionistas? Mas Israel não representa, como um messias dos tempos modernos, a totalidade das pessoas judias?
Em Caminhos divergentes, a filósofa Judith Butler faz uma análise consistente da impossibilidade de reconhecer o sionismo — e, portanto, o Estado de Israel — como a expressão da judaicidade. Como é possível que o povo que deu ao mundo o primeiro mandamento (“não matarás”) possa exigir a eliminação de um povo nativo?
Esta é a questão-chave. O sionismo tem em seu tutano a colonização da Palestina e a expulsão do seu povo nativo, objetivos que não se confundem com os princípios éticos judaicos. Conforme apontou Pappé (2022), “desde sua concepção, em meados do século XIX, foi apenas uma expressão — nada essencial — da vida cultural judaica”.
A coabitação, como aponta Butler, foi o valor ético estruturante da existência judaica por ter sido forjado na diáspora. A convivência com a diferença se tornou um imperativo existencial, exatamente como acontecia na Palestina antes da chegada dos colonizadores sionistas.
É possível que um Estado que se fundamenta na homogeneidade étnico-racial (portanto, racista) represente ou performatize o princípio da relacionalidade ética judaica? A resposta de pessoas judias antissionistas é um ensurdecedor “não”. A partir do legado de pensadores como Walter Benjamin, Hannah Arendt e Primo Levi, Judith Butler conclui que o sionismo é a negação, a antítese, da judaicidade.
Para a filósofa, “se eu conseguir mostrar que existem recursos judaicos para a crítica da violência de Estado, da subjugação colonial das populações, da expulsão e da despossessão, terei conseguido mostrar que uma crítica judaica da violência de Estado israelense é, pelo menos, possível — e talvez até eticamente obrigatória” (p. 12). São esses recursos culturais, históricos e políticos potentes que caracterizam a judaicidade.
A crítica da violência de Estado que a filósofa empreende está enraizada nos valores judaicos de coabitação com os não judeus, porque não existe uma essência ontológica judaica que blinda o “ser judeu” das afetações com o mundo que o cerca.
A substância ética da judaicidade diaspórica está na incompletude e na relação com a alteridade como elemento anterior e exterior que constitui a identidade, o que equivale afirmar, nas palavras de Butler, “que a relação com a alteridade interrompe a identidade, e essa interrupção é a condição da relacionalidade ética (p. 16), esfarelando a tese de um “ser judeu” amplamente manipulado pelo Estado de Israel.
Outra dimensão constitutiva da judaicidade é o compromisso com a igualdade social e a justiça social, não exclusivamente para atender a um grupo religioso ou étnico, mas atrelado a uma visão de mundo incompatível com o racismo, o colonialismo e o capitalismo. A justiça social, no âmbito da judaicidade, não é pensada exclusivamente como prática interna aos kibutzim, ilhas de fantasia socialistas exclusivas aos sionistas.
A crítica necessária a um Estado criado a partir da herança colonial europeia, portanto, não pode de forma alguma se confundir com atos antissemitas, como vandalizar sinagogas ou agredir pessoas por serem judias.
A instrumentalização da luta contra o antissemitismo por sionistas revela, por sua vez, um processo de palestinização do mundo capitaneado por Israel, que impõe uma censura global aos despossuídos e seus aliados, os impedindo de demandar reparação por crimes do passado e do presente.
Pensadores judeus antissionistas acertam ao destacar que defensores de Israel transformaram a acusação de antissemitismo em arma de chantagem. Cabe seguir afirmando que a chave da questão palestina é a derrota do sionismo e a garantia do direito de autodeterminação do povo palestino.
Antissemitismo é crime. Antissionismo é dever ético.
Texto publicado no site Outras Palavras.
PARA ENTENDER A QUESTÃO PALESTINA

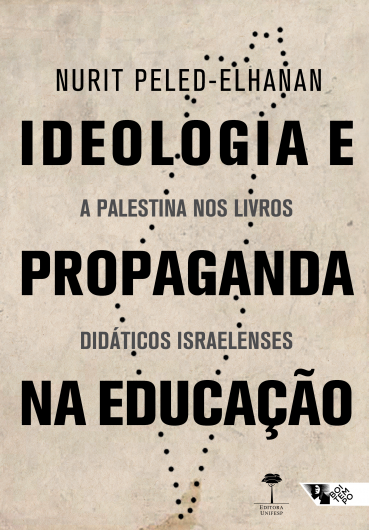
Caminhos divergentes, de Judith Butler
A partir das ideias de Edward Said e de posições filosóficas judaicas, Butler articula uma crítica do sionismo político e suas práticas de violência estatal ilegítima, nacionalismo e racismo patrocinado pelo Estado. Além de Said, reflete sobre o pensamento de Levinas, Arendt, Primo Levi, Buber, Benjamin e Mahmoud Darwish para articular uma nova ética política, que transcenda a judaicidade exclusiva e dê conta dos ideais de convivência democrática radical, considerando os direitos dos despossuídos e a necessidade de coabitação plural.
Ideologia e propaganda na educação, de Nurit Peled-Elhanan
A professora de linguagem da educação investiga os recursos visuais e verbais utilizados em livros didáticos de Israel para representar a população palestina. Mobilizando o arcabouço teórico e metodológico da análise crítica do discurso e da análise multimodal, Nurit Peled-Elhan examina a apresentação de imagens, mapas, layouts e o uso da linguagem em livros de história, geografia e educação moral e cívica. O resultado é uma detalhada exposição dos mecanismos pelos quais esses materiais escolares moldam um imaginário de marginalização dos palestinos.
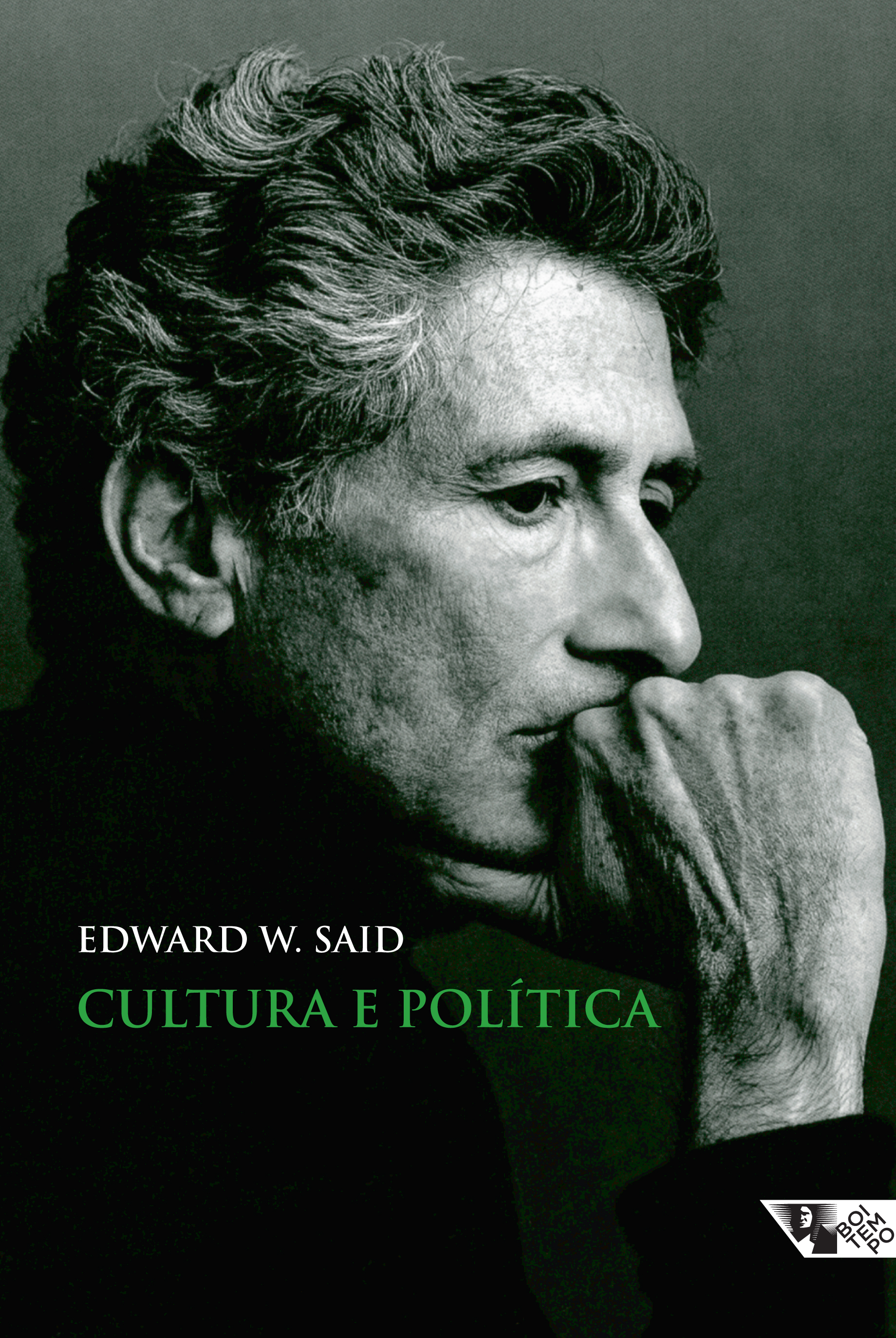
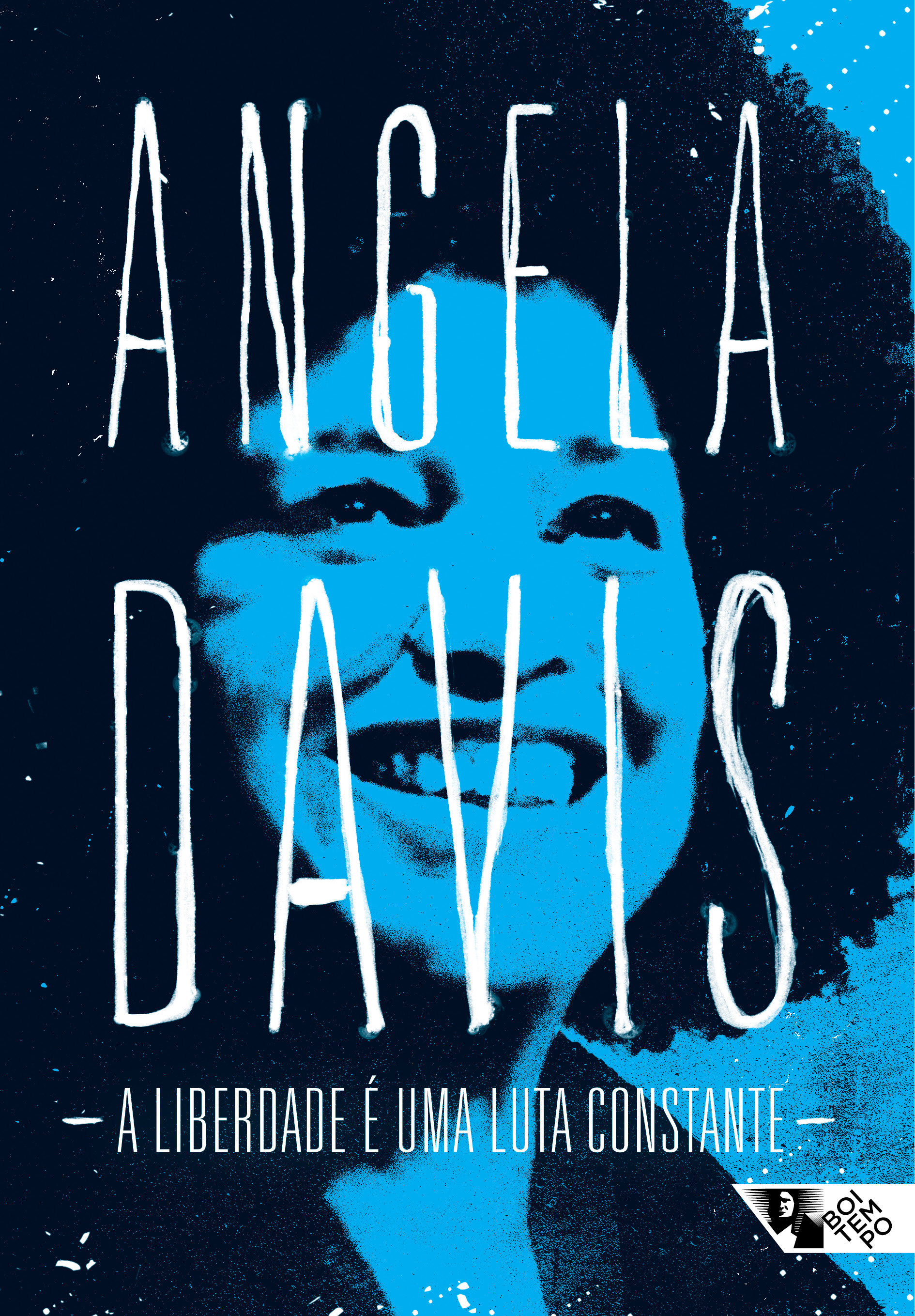
Cultura e política, de Edward W. Said
Edward Said imprime uma visão universalista em suas análises sobre a questão palestina, inserindo-a no conjunto das grandes lutas pelo reconhecimento de todos os povos a afirmar sua identidade e ter sua expressão política. Sua obra denuncia o racismo ocidentalista, que tenta se legitimar como visão hegemônica do mundo, opõe-se à criminalização da luta do povo palestino e de todos aqueles considerados fora dos padrões da chamada civilização ocidental.
A liberdade é uma luta constante, de Angela Davis
Esta ampla seleção de artigos traz reflexões sobre como as lutas históricas do movimento negro e do feminismo negro nos Estados Unidos e a luta contra o apartheid na África do Sul se relacionam com os movimentos atuais pelo abolicionismo prisional e com a luta anticolonial na Palestina. A obra da intelectual e ativista Angela Davis ensina também a pensar a nossa luta em relação a todos os “condenados da terra”, como escreveu Frantz Fanon.
***
Berenice Bento é doutora em Sociologia e professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB).





Deixe um comentário