O marxismo que não se reconhece
Um comentário do livro "O marxismo ocidental: como nasceu, como morreu, como pode renascer", de Domenico Losurdo.

O Blog da Boitempo apresenta em seu Espaço do leitor textos inéditos escritos por nossos leitores. Quer colaborar também? Saiba como no fim deste post!
Por Jorge Fofano Junior.
Em 1991, o mundo testemunhava o arriamento da bandeira vermelha que tremulava sobre o Kremlin desde 30 de dezembro de 1922. Era o fim formal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), um fato histórico com implicações geopolíticas, mas que também gerou calor no debate acadêmico global. Com a dissolução do país socialista, o sentimento de triunfo entre segmentos dominantes do pensamento liberal ocidental era tal que o conceito de fim da história, tutelado pelo filósofo Francis Fukuyama, tornara-se o paradigma da nova ordem mundial que se edificava a partir dali. Na época do fim da história, a democracia liberal e a economia de mercado se provaram vitoriosas no plano das ideias, de maneira que “toda contradição fundamental da vida humana” seria resolvida dentro dos moldes do liberalismo contemporâneo globalizado.
As balizas teóricas de Francis Fukuyama — vale lembrar, um filósofo de clara orientação liberal — iam ao encontro dos diagnósticos da esquerda europeia e estadunidense, perdida nos porquês da derrocada do primeiro país a surgir de uma revolução socialista. O capitalismo de Estado perene produzido pela NEP, Stálin, a burocracia do Partido Comunista, essas e mais tantas outras críticas foram levantadas apenas para concluir que a experiência soviética havia sido uma desilusão da qual o comunismo nunca mais se recuperaria. Dava-se, enfim, o sepultamento ideológico de Marx e o equívoco do materialismo histórico. A autocrítica do sujeito histórico vencera.
O erro depreendido dessa leitura é brutal. Essa é a mensagem que fica após ler Domenico Losurdo, filósofo marxista italiano. Sim, o marxismo morrera, mas apenas um deles: o de matriz ocidental. Morrera em razão de sua miopia eurocêntrica e incapacidade de encontrar no Oriente o exemplo bem-logrado do que Marx, Engels e Lênin vislumbraram. É precisamente a falta de perspectiva histórica sobre as experiências socialistas na Ásia que tornou o marxismo ocidental debilitado. No que diz respeito a essa limitação, Losurdo é categórico: não há compreensão outra do século XX que não se faça através da questão colonial, irmanada à história liberal e imperialista dos séculos XIX e XX, e das revoluções anticolonialistas que deram corpo ao marxismo no Oriente.
O livro Marxismo ocidental: como nasceu, como morreu e como pode renascer, devido a seu esforço em transplantar para o primeiro plano o debate colonialismo-anticolonialismo, oferece uma visão relativamente pouco explorada no debate da esquerda marxista ocidental, isto é, aquela que confere à formação da URSS a difusão das ideias emancipatórias que arrebataram o “terceiro mundo” a partir de 1940. Atuando por essa chave, Losurdo é implacável em sua crítica ao imperialismo ocidental racista e genocida e não faz perder de vista dois pontos principais: como as democracias liberais ganham tons terrivelmente totalitários quando agem como conquistadoras e como o marxismo ocidental se furtou de fazer essa denúncia.
A obra a que se dedica a presente análise pode ser dividida em três grandes blocos temáticos: i) As lições que Ocidente e Oriente tomam da Revolução de Outubro (p.17-69); ii) A miopia anticolonial no pensamento marxista ocidental (p.69 – 165); iii) A conquista do poder e as temporalidades do processo histórico (p.165-212).
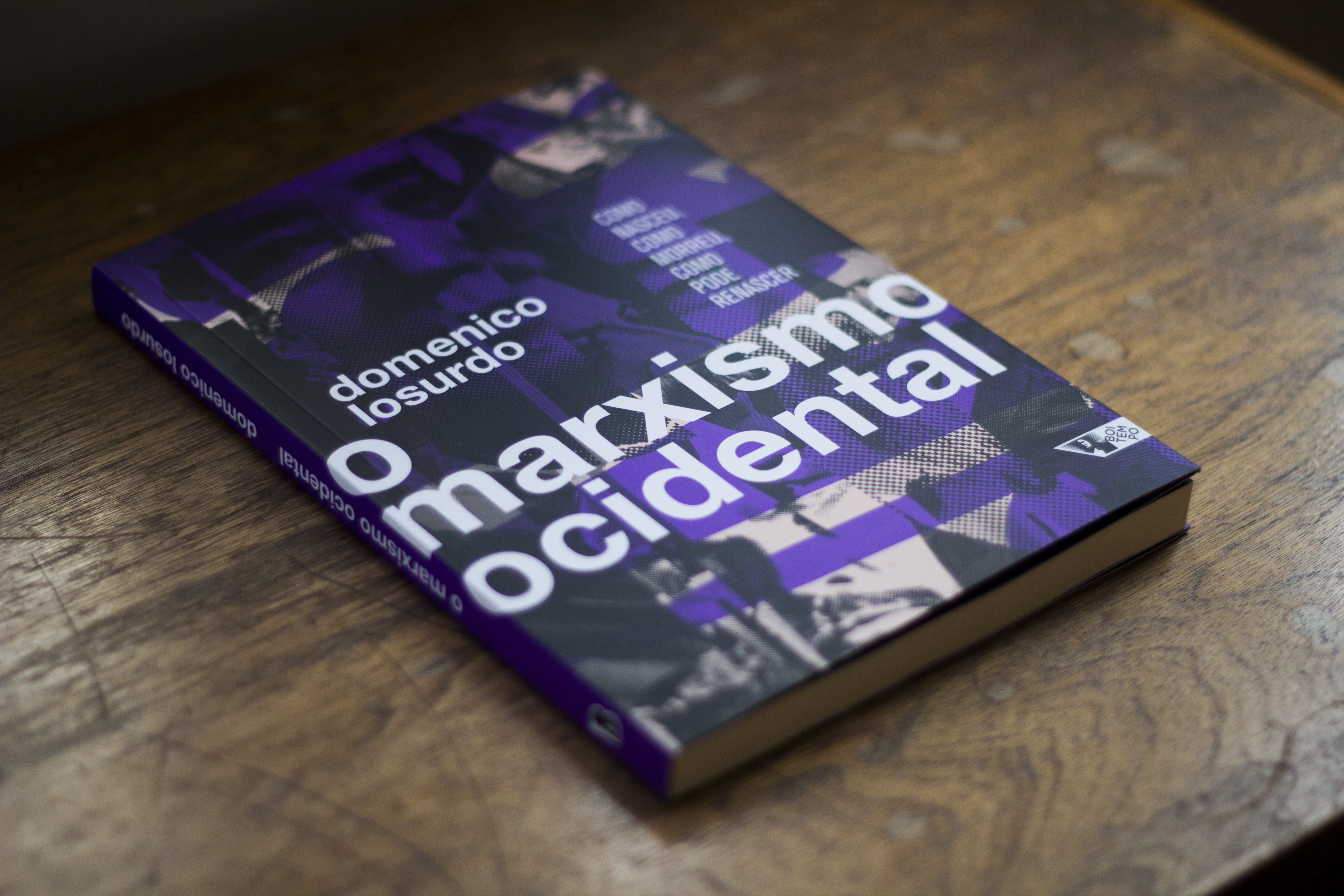
As lições que Ocidente e Oriente tomam da Revolução de Outubro
Já nas primeiras páginas, o autor explicita a natureza do conflito bélico que se estendeu entre 1914 e 1918 como “a demonstração definitiva do horror intrínseco ao sistema capitalista-imperialista” (p.19). Sentadas em cima de 20 milhões de corpos, as potências europeias se engajaram em uma guerra total, autofágica, que concorreu para a única finalidade de matar os principais avanços técnicos e científicos obtidos no curso do século XIX. O ar positivista que conferia a magia da Belle Époque, tempo em que se ousou cravar que apenas o progresso aguardaria a humanidade (sem dúvida, a humanidade branca europeia), turvou-se pelas vultosas quantidades de gás cloro, mostarda e fosgênio usados nos fronts ocidental e oriental. Em uma citação de Benjamin mencionada no livro, “a técnica traiu a humanidade e transformou o leito nupcial num mar de sangue” (BENJAMIN apud LOSURDO, 2018, p.33).
Para a condução da guerra e para além das armas bioquímicas, como denuncia o marxista alemão Ernst Bloch, os próprios homens tornaram-se, na mão do aparato estatal e militar, o instrumento vivo e descartável da guerra. O serviço militar obrigatório adotado universalmente pelas nações em conflito tornava o recurso à violência o meio utilizado em larga escala para se atingir os fins do Estado. Figuram no centro dessa engrenagem da morte, as casas de arregimento militares fincadas nos territórios coloniais, conferindo, como se verificou no caso do Império Britânico, um massivo contingente de homens que se deslocariam milhares de quilômetros para lutar em uma guerra de que nada sabiam. Em uma reflexão sobre o papel do neocolonialismo na Guerra empenhada, Lênin denuncia: “os homens políticos mais liberais e radicais da livre Grã-Bretanha […] ao se tornarem governadores da Índia, transformaram-se em verdadeiros Gêngis Khan” (LÊNIN apud LOSURDO, 2018, p.22).
Paralelamente, quando se analisa os acontecimentos no Leste, identifica-se que o horror à guerra “entre proprietários de escravos”, como dizia Lênin, e a completa negação da sociedade burguesa “em decadência”, como declara Trótski, deram gasolina aos comunistas da Rússia, um país atolado em um estágio de pré-desenvolvimento industrial O avanço dos bolcheviques era visto por pensadores ainda jovens à época do conflito, como Lukács e Benjamin, com um verdadeiro “utopismo messiânico” (p.38), capaz de enxaguar todo o mal presente no mundo. Nas palavras de autocrítica do próprio Lukács, havia “a tendência de se representar o pós-capitalismo como algo que comporta em todos os campos uma ruptura total com todas as instituições e as formas derivadas do mundo burguês” (LUKÁCS, apud LOSURDO, 2018, p.38).
Nem o próprio país que se consolidava a partir da Revolução de Outubro passou incólume ao idealismo teorizado no Oeste. Do primeiro dia de sua existência em diante, a URSS deveria ser a expressão da supressão do trabalho, da economia monetária e da erradicação do Estado. Quando Lênin remou no sentido contrário, propondo reformas de capitalismo estatal para conduzir o desenvolvimento industrial do país recém-formado, as condenações começaram a chegar. O marxismo ocidental era completamente incapaz de perceber as condições materiais objetivas que caracterizavam a URSS naquele momento e o risco fatal que a estagnação pré-industrial representaria para a existência soberana nacional desta.
Se ainda na ordem pré-1918, o Império Russo sofria assédio de contornos coloniais tanto por parte dos poderes centrais – a campanha alemã conduzida pelo Segundo Reich no Leste tinha inequívoca vocação imperialista – quanto da Entente – a Rússia foi obrigada a combater até a exaustão de seus recursos naturais e humanos na Primeira Guerra – com a consolidação do poder revolucionário soviético, a sanha imperialista ocidental se tornou tão mais agressiva quanto racista. No tempo da malograda República de Weimar, dizia Oswald Spencer sobre a nação recém-surgida: “ao se tornar soviética, a Rússia jogara fora sua ‘máscara branca’ para construir uma potência asiática, ‘mongol’, agora parte integrante de ‘toda população de cor da terra’ animada pelo ódio contra a ‘humanidade branca’” (SPENCER apud LOSURDO, 2018, p.56). Já estavam plantadas as sementes para o plano de aniquilação, com vistas à escravização do povo soviético, que Hitler lançaria em 1941.
Na contramão da cegueira anticolonial do marxismo ocidental, formavam-se os líderes revolucionários que conduziriam a emancipação nacional da Indochina e da República Popular da China. Atentavam-se não à superação afobada das infraestruturas que sustentam o capitalismo, mas sim à representação do bolchevismo soviético enquanto força de libertação das correntes coloniais seculares. Portanto, ao invés da dicotomia capitalismo-socialismo, principiavam a pensar no choque colonialismo-anticolonialismo. Já em 1920, havia a clareza de Ho Chi Minh sobre o papel do marxismo na luta que desembocaria na formação do Vietnã do Norte: “Nós vemos na adesão à Terceira Internacional a promessa formal de que o partido socialista finalmente dará aos problemas coloniais a importância que merecem” (MINH apud LOSURDO, 2018, p.22).
Tanto para Mao Tsé-Tung e Ho Chi Minh, quanto para os líderes que lhes sucederam, o desenvolvimento de um capitalismo pleno era condição mais do que necessária para impedir que os inimigos no plano geopolítico permanecessem no controle colonial de seus países – ainda que sob formas indiretas (econômica ou cultural), como se verifica ainda nos dias de hoje. Nesse aspecto, ao invés da demonização da técnica e do avanço tecnológico que impregnava o marxismo ocidental, o incentivo à ciência e a técnica eram pontos-chave para o aumento “impetuoso da força produtiva” (p.49), essencial para o estabelecimento de uma emancipação nacional duradoura.
Como referencia Losurdo, o processo que engajaria os líderes comunistas do Oriente alude ao dilema teórico de Danielson: para alcançar o Estado socialista, antes, deve-se concluir uma revolução de caráter democrático-burguês. Desta forma, assemelham-se com a Revolução Americana os movimentos na China e na Indochina. Aqui, afasta-se a noção de uma revolução pura, dirigida somente por antagonismos de classes; a práxis revolucionária se constitui de etapas de transição mais ou menos longas que, se inicialmente se apresentam como burguesas, no curso da história abrem “um caminho ainda mais largo para o desenvolvimento do socialismo” (p.61).
Em certo aspecto, o que Losurdo mostra é que não precisariam ser utilizadas outras categorias de análise que não a geopolítica para compreender não só o distanciamento dos marxismos, mas também o fracasso de um diante do sucesso do outro. Para entender esse ponto, recorre-se a Marx quando este afirma que “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, pelo contrário, é o ser social que determina sua consciência”. Este ser social a que Marx se refere é o indivíduo preso à história e às condições materiais de sua vida. Enquanto no pensamento do Ocidente essa relação causa-consequência pareceu se desvanecer através de elucubrações messiânicas sobre o sucesso ou não da revolução proletária, os líderes no Oriente aceitaram-na, trabalhando nas margens de suas contradições inerentes à realidade.

A miopia anticolonial no cerne do pensamento marxista ocidental
É na segunda etapa do livro que Domenico Losurdo assume uma postura mais denunciativa. O filósofo marxista italiano se dedicará, ora brevemente, ora com afinco, a sondar o pensamento de célebres expoentes da esquerda marxista ocidental que contribuíram fundamentalmente para um olhar míope sobre a importância das revoluções anticoloniais, fato-mor do século XX, pecando pelo não-reconhecimento da Revolução de Outubro como força motriz de tal processo. São contestados Mario Tronti, os fundadores da Escola de Frankfurt e da teoria crítica, Hannah Arendt, Michael Foucault, Jean-Paul Sartre, entre outros.
A análise do debate marxista que vigorava no Ocidente parte do país de Losurdo. Na Itália, confrontavam-se Norberto Bobbio, célebre filósofo e historiador do pensamento político, e o secretário-geral do Partido Comunista Italiano Palmiro Togliatti. De início, Losurdo levanta a suspeita sobre dois Bobbios distintos: um primeiro da Resistência italiana, convencido de um marxismo iluminista que deu “uma nova e imensa perspectiva do mundo humano” (p.70), e um segundo, anos após, certo de que “mecanismos garantistas liberais” (p.71) eram essenciais para a práxis revolucionária virtuosa. O rechaço desses mecanismos liberais pelas experiências socialistas mundo afora levou Bobbio a criticar agudamente o marxismo.
Quando fala de tais garantias, Bobbio está se referindo ao princípio de tutela do Estado de direito sobre as liberdades individuais e sua consagração jurídico-institucional, da qual a Revolução Francesa possui tutela. Mas naquele mesmo ano de 1954, dezenas de milhares de quilômetros da tribuna de onde Bobbio defendia as conquistas liberais francesas, o governo da França ocupava a capital da Indochina, território subjugado contra o qual nunca se prostrou a cometer ilegalidades, para manter um eufemismo, dentro de seu próprio código liberal. Tal ocupação, portanto, evidencia a dúbia aplicabilidade dos princípios liberais de igualdade jurídica, e de seus direitos elementares, para os povos coloniais e metropolitanos.
Domenico Losurdo aponta que o aspecto exclusivamente “formal” da liberdade permitiu que a burguesia inserida no Terceiro Estado pudesse ter as mesmas garantias jurídicas da aristocracia; mas quando o Estado burguês se lançou à conquista de colônias nos séculos XIX e XX, os ideais de liberdade e igualdade tornam-se moralmente em notas de rodapé, ao passo que o poder do Ocidente liberal se legitima pela afirmação da “bárbara discriminação entre as ‘criaturas humanas’” (p.72). Sem que houvesse pudor por essa aparente contradição absoluta, instalava-se um sistema que proibia negros e cães (tidos na mesma categoria) de entrar em parques, como vigorava no sul dos Estados Unidos, e que permitia espancamentos e execuções de argelinos nas ruas de Paris, enquanto cidadãos “genuinamente” franceses podiam transitar livres. Se mal eram considerados humanos pelas metrópoles ocidentais, quem dirá cidadãos.
É precisamente a negação da condição humana enquanto valor universal, ou seja, o anti-humanismo, um momento-chave do expansionismo imperialista ocidental que se marca a partir do século XIX. Com aporte na então prestigiada ciência darwinista social e nas inequívocas diferenças entre as raças segundo seus teóricos, o neocolonialismo tornou planetária uma campanha de desumanização que gerou o extermínio completo de povos na Ásia, na Oceania, África e no Oeste norte-americano. De assalto, e em nome da humanidade como sinônimo apenas do homem branco ocidental, o Estado liberal e democrático tomara para si a prerrogativa de decidir quem viveria e quem morreria – como mostra mais adiante, é a biopolítica foucaultiana anterior à própria alcunha do termo. E morreram todos que se interpunham ao caminho de glória civilizatória, como assim devia ser o único resultado esperado do conflito entre o homem e a ameaça do Untermensch (sub-homem, como formula o autor eugenista norte-americano Lothrop Stoddard, louvado pelo nazismo).
Como aponta o filósofo, o resgate do valor humanista à frente das bandeiras bolcheviques torna a URSS o inimigo de morte da Alemanha hitlerista, ancorada radicalmente na tradição racista incubada na Europa e nos Estados Unidos. Eram a própria URSS e o bolchevismo judeu, sob a ideia do “espaço vital”, as vítimas da campanha alemã de colonização e subjugação no leste europeu.
Encurralados na categoria de sub-homem e sob a necessidade da sublevação diante do jugo colonial, o “terceiro-mundismo”, nome com ares pejorativo dado à descolonização afro-asiática, aparentava questão menor para outro marxista italiano célebre de meados do século XX. Identificado como pai do “operaísmo”, Mario Tronti imaginara um leninismo reduzido ao corporativismo, “apenas dedicado à classe operária” (p.77) e ao antagonismo de classes travado no dia a dia dos chãos de fábrica. A revolução marxista, portanto, se concentraria nas metrópoles, longe dos países da periferia capitalista, sob muitos aspectos considerados pré-industriais.
Losurdo prossegue sua crítica, dessa vez direcionada aos líderes da Escola de Frankfurt. Preocupado com a categoria do autoritarismo, tema central em sua obra de 1942, Horkheimer faz um juízo severo da URSS, rotulando-a como “a espécie mais coerente de Estado autoritário” (HORKHEIMER apud LOSURDO, 2018, p.90). Como ameaça última, o autoritarismo – vilinificado na forma do Estado – antepunha-se à “afirmação e a defesa da ‘autonomia do indivíduo’” (p.91). Não só uma meta desvirtualizada pela experiência soviética, o ideal da liberdade individual preservada de Horkheimer possui paralelos que se confundiam com as bases do pensamento liberal clássico, defendido por John Locke. Como propõe Losurdo, tratava-se “de se curvar ao liberalismo miticamente transfigurado” (p.91) sem considerar, novamente, as condições objetivas presentes.
Quando critica Horkheimer, Losurdo parece buscar, em primeiro plano, uma visão holística dos fenômenos históricos, enquanto o pai da teoria crítica os analisa a partir de recortes: Horkheimer aponta um caráter tendencialmente autoritário na Revolução Francesa, sem considerar que foi Robespierre aquele que suspendeu a escravidão nas colônias francesas e foram os jacobinos negros os responsáveis pela emancipação do Haiti escravizado; também usa o autoritarismo contra a URSS, não observando que o desenvolvimento industrial conduzido com mão de ferro pelos bolcheviques foi o que evitou, em última instância, a escravização do Leste europeu, ou seja, a erradicação da liberdade individual; por fim, Horkheimer também parece contemporarizar o fato do defensor das autonomias individuais ser, ele, dono de escravos.
Contudo, o coadjuvantismo da questão colonial, do desenvolvimento econômico e da perspectiva socialista frente ao compromisso do antiautoritarismo se desnudam por completo em uma declaração geral de Horkheimer sobre a teoria crítica:
“[…] deve-se, portanto, ressaltar os custos do progresso, o perigo de que, a partir dele, acabe por desaparecer até mesmo a ideia de sujeito autônomo […] queremos que o Terceiro Mundo não sofra mais com a fome. Mas, para alcançarmos esse objetivo, teremos de pagar o preço de uma sociedade que se configura exatamente como um mundo administrado […] aquilo que Marx imaginou ser o socialismo, é o mundo administrado” (HORKHEIMER apud LOSURDO, 2018, p.93).
Também preocupado com a sobrevivência do sujeito individual frente ao sujeito coletivo estava Adorno. Para o coexpoente da teoria crítica, “negando a categoria hegeliana de espírito do povo” (p.94), os movimentos emancipatórios nacionais, como o visto na Argélia, eram taxados como provincianos, reacionários em seu desejo de pertencimento a alguma identidade coletiva, e não à “humanidade já visível” (p.94) como propora Immanuel Kant.
O que Losurdo aponta, contudo, é uma contradição repleta de ironia: é o próprio Kant que parece desvalidar Adorno, ainda que o mesmo fosse referenciado pelo fundador da Escola de Frankfurt, quando alerta o desperdício da finalidade do amor quando esse se torna universalmente abstrato. Segundo Kant, quem é autenticamente universalista “no apego ao próprio país deve ter a inclinação de promover o bem no mundo inteiro” (p.97). Desta forma, décadas antes, Kant não só faz referência ao valor humanista universal, compreendido pela união do movimento comunista internacional e a revolução anticolonial, como contesta Adorno quando este nem sequer era nascido.
O marxismo ocidental acelera o seu galope de equívocos no ano de 1968, a era das revoluções individuais. As manifestações miscigenavam o grito antiguerra nas duas margens do Atlântico àquele que buscava a emancipação do corpo e da sexualidade, formando um coro uníssono de contestação frontal do poder vigente. O marxismo ocidental, enfiado às caras neste movimento, identificava no capitalismo e suas estruturas codependentes as culpas sumárias pelas chagas que abatiam o povo trabalhador unido, urgindo, então, pela rebelião completa contra o sistema: rebelar-se contra o trabalho, contra o desmonte do Estado de bem-estar social e contra a repressão da sexualidade.
Nota-se, a rebelião como fim, não como meio para buscar algum objetivo concreto, como se verificava na contemporânea Revolução Cultural chinesa e o objetivo do desenvolvimento sociomaterial do país que dela se ensaiou.
Ainda que o movimento de 1968 tivesse obtido conquistas, ao invés dessas promoverem fissuras sérias na ordem capitalista ocidental, o que se observou foi um movimento de absorção e acomodação das pautas dentro dos moldes democrático-liberais. Ao rebelar-se contra o poder, apenas pelo capricho de fazê-lo, o marxismo ocidental “tornava impossível a edificação de uma ordem social alternativa àquela existente” (p.111), reduzindo, consequentemente, sua capacidade transformadora.
Então, como que em uma experiência traumática, a perspectiva de conquista do poder e a posterior governança passaram a gerar repulsa no pensamento marxista ocidental. Desta tendência, nem mesmo escapava um dos mais fervidos anticolonialistas da época, Jean-Paul Sartre. O filósofo existencialista, que via na escassez a origem de todos os conflitos da vida humana, pelo horror que tinha à gerência do poder, contradizia-se ao criticar o discurso “economicista”, defensor do desenvolvimento das condições materiais, enquanto estratégia adequada de emancipação nacional. Para Sartre, “os protagonistas da revolução anticolonial são sempre os ‘condenados da terra’” (SARTRE apud LOSURDO, 2018, p.113). Preso eternamente no momento revolucionário apoteótico, Sartre é incapaz de vislumbrar a concretude necessária ao devir socialista e sua edificação econômica. Esvazia-se, dessa forma, o teor revolucionário da luta, transfigurado para uma forma de idealismo.

A crítica mais laboriosa feita por Domenico Losurdo nesta obra dedica-se a Hannah Arendt, autora do célebre livro As origens do totalitarismo, publicado inicialmente em 1951, aclamada como a pioneira do pensamento político contemporâneo. Como afirma o filósofo, em razão do trabalho de Arendt “os vínculos do marxismo ocidental com a revolução anticolonialista mundial se rompem por completo” (p.122). Para compreender as razões e os efeitos do pensamento de Arendt no paradigma ocidental, a análise empreendida pelo filósofo é multifacetada e se divide em quatro atos: (1) O culto a Arendt e o recalque da relação colonialismo-nazismo (p.122-130); (2) O terceiro Reich, da história do colonialismo à história da loucura (p.130-136); (3) No banco dos réus: o colonialismo ou suas vítimas? (p.136-139); (4) Com Arendt, do Terceiro Mundo ao “Hemisfério Ocidental” (p.139-142).
(1) O culto a Arendt e o recalque da relação colonialismo-nazismo: nesta primeira parte, o filósofo italiano joga luz à consciência apresentada por povos coloniais ou de origem colonial em luta sobre o “vínculo estreito entre nazifascimo e a tradição colonialista” (p.122), exemplificada pelas palavras do autor afro-americano William Du Bois: “Hitler é o expoente tardio, cru, mas consequente da filosofia racial do mundo branco” (DU BOIS apud LOSURDO, 2018, p.122). Em complementaridade, outros expoentes da luta antirracista internacional não isolavam a ação da Alemanha hitlerista contra os judeus e os eslavos. Comparavam-na com as formas com que o Império Britânico, o Japão imperial e a República norte-americana exerciam seu poder na Índia, China e sobre a população afro-americana do Sul, aterrorizadas sob um regime de white supremacy, respectivamente. No pico da Segunda Guerra Mundial, mais do que um conflito entre potências, o que se identificava era uma batalha total pela sobrevivência “contra os imperialismos e contra “as diversas formas de racismo e de tiranias totalitárias” (p.123).
Aqui, a categoria de totalitarismo que figura centralmente no pensamento de Arendt aparece como correspondência do poder exercido sob pretextos abertamente raciais e afirmados por uma política colonialista. Bem se deve pontuar, essa é uma sentença que foge a uma personalidade específica, sendo invocada, inclusive, pelos juízes do Tribunal de Nuremberg. A Alemanha nazista tentou instalar um regime colonial de proporções continentais “baseado na exploração em larga escala do trabalho forçado” (p.124).
As relações entre o nazifascismo e o colonialismo também não eram estranhas a uma primeira Hannah Arendt, como separa Losurdo. Antes mesmo de rumar aos EUA, a filósofa já elaborava o conceito de “imperialismo racial” para tratar do Terceiro Reich e seu modus operandi de dominação através do discurso de superioridade da raça ariana. Mas se o nazismo era a manifestação do imperialismo mais terrível de todos, também em Arendt há o entendimento de que a Alemanha não era a primeira a subjugar os povos sob o pretexto da eugenia e da supremacia branca. Enfurecendo os defensores da tradição liberal inglesa, Arendt fazia alusão aos massacres administrativos desempenhados por Lorde Cromer no Egito, aproximando a Grã-Bretanha ao totalitarismo. Em contrapartida, Arendt também tecia elogios à Rússia soviética, a qual se atribuía a conquista da erradicação do antissemitismo.
Esta primeira compreensão que aproximava o totalitarismo e o imperialismo colonialista ocupa dois terços de As origens, até que assume uma segunda Hannah Arendt, tomada de certo maneira pelo macarthismo americano em alta no início da Guerra Fria. Esta atualização de Arendt encontra espaço para uma argumentação que visa comparar a URSS e a Alemanha hitlerista, igualando-as através da mesma categoria de “totalitarismo”.
(2) O Terceiro Reich, da história do colonialismo à história da loucura: novamente, fazendo o caminho do pensamento liberal ocidental, volta e meia de mãos dadas com ideólogos supremacistas raciais, Losurdo reincide na inconsistência entre as duas versões de Hannah Arendt. A primeira propunha uma abordagem clara de correlação na tríade imperialismo-antissemitismo-anticomunismo, exemplificado nos ataques raciais ao bolchevismo russo a que se dedicavam numerosos autores ocidentais; a segunda promovia um “desvio metodológico” (p.133) ao saltar do que definira por “imperialismo racial” para “totalitarismo”. O totalitarismo “agora era lido em chave psicologizante e psicopatológica” (p.133): dava os seus contornos, “o desprezo total pela realidade e pelos próprios fatos” (p.133).
Para além de praticar punições alheias ao próprio crime, o Estado totalitário arma-se de um supersentido ideológico capaz de neutralizar a razoabilidade e o pensamento crítico. Esta é a imagem que Arendt propõe de uma Alemanha nazista tresloucada e, portanto, subjetivamente próxima da URSS, também enferma de algum tipo de paranoia. Como se comparam essas supostas paranoias senão a juízo arbitrário e pessoal da própria filósofa? Sem apresentar ferramentas factuais de comparação, a equivalência não deveria se sustentar. Mas seria esse o paradigma “vencedor” no marxismo ocidental a partir de 1951.
Eximindo de culpa as condições históricas que originaram, no século XX, o holocausto, a formulação da segunda Hannah Arendt exime, na verdade, os crimes contra a humanidade levados a cabo pela tradição colonialista ocidental, a qual Hitler prestava sabida reverência. Por esse movimento, As origens do totalitarismo se apresentam como duas obras em uma só, remendadas por artificialismos ideológicos.
(3) No banco dos réus: o colonialismo ou suas vítimas?: prosseguindo a análise da guinada ideológica que Arendt dá após o início da Guerra Fria, Losurdo denuncia a falta de empenho de Arendt em empregar a categoria “totalitarismo” para os regimes fascistas que tomaram Itália, Portugal e Espanha no mesmo período. A assimetria também se verificava na dúvida que Arendt possuía acerca da República Popular da China poder ser classificada como totalitária, mas não apresentar questionamento semelhante quanto à dominação japonesa iniciada em 1937 no país; ainda que o Império do Sol Nascente tenha instalado um regime de terror absoluto no território chinês, a suspeita de totalitarismo recaía sobre o país que reagiu à agressão colonialista.
De maneira sistemática, em seu pensamento mais recente Arendt inverte papéis e atribui culpa totalitária às vítimas do totalitarismo. Sua explicação sobre a gênese dos regimes totalitários é reveladora:
“Tal forma de governo parece encontrar condições favoráveis nos países do tradicional despotismo oriental, onde há uma reserva humana praticamente inesgotável, capaz de alimentar a máquina totalitária acumuladora de poder e devoradora de indivíduos e, onde, ademais, o sentido de superfluidade dos homens, típico das massas […] por séculos dominou absoluto no desprezo da vida humana” (ARENDT apud LOSURDO, p.136).
Incutido em sua explicação está a grande taxa demográfica dos países do “tradicional despotismo oriental”. Como propõe Losurdo, esse argumento reedita uma tese muito difundida pela ideologia colonialista: “o grito de alarme pelo ‘suicídio racial’ que ameaçava a raça branca” (p.137) frente à “maré humana” dos povos coloniais e de cor. Assim, da condenação ao domínio colonial como primeira fonte do poder totalitário à “retomada de um lugar comum da ideologia colonialista […] incluídos no totalitarismo simplesmente por seu grande número” (p.137), verifica-se em Arendt, residente nos Estados Unidos, um movimento claro de readequação ao clima de polarização próprio da Guerra Fria.
A involução de Arendt se aprofunda com o tempo, de maneira que no ensaio Sobre a revolução, um esforço de entendimento sobre a herança da Revolução de Outubro, a filósofa culpa Marx de ser o criador da “doutrina politicamente mais danosa da idade moderna” (p.138), por representar o rendimento da liberdade frente à necessidade. Assim também fizeram Robespierre, o mestre de Marx, e Lênin, seu discípulo. Nesse exercício de equiparação, Arendt não considera a contribuição essencial que cada um dos três teve na difusão dos ideais anticolonialistas e, portanto, libertários por essência.
Em conclusão, o processo de inversão da culpa totalitária a que se dedica a filósofa em sua produção mais recente parte de um método grosseiro de simplificações descondicionantes das condições materiais objetivas. Primeiro, rompe-se o vínculo entre o “o poder despótico e tendencialmente totalitário que o colonialismo e imperialismo impõem aos povos coloniais e de origem colonial” (p.138), deixa-se de lado as dificuldades imanentes e materiais da afirmação emancipatória nacional e, por fim, utiliza-se, como critério de ouro, “a presença ou não de instituições liberais capazes de limitar o poder” (p.138).
(4) Com Arendt, do Terceiro Mundo ao “Hemisfério Ocidental”: a etapa final da empreitada crítica de Losurdo sobre o pensamento de Hannah Arendt se relaciona à falta de criticidade que a filósofa possui frente ao papel dos Estados Unidos, a pátria que ela elegeu como lar e para a qual sempre teceu elogios fervorosos, na desarticulação do movimento “terceiro-mundista”.
Após investigar os controversos motivos que levam a consagração de Arendt como um dos maiores nomes do pensamento político liberal, a terceira parte do livro se finda com uma análise complementar, ainda sobre o papel dos povos coloniais, de Losurdo sobre outra figura proeminente daquele tempo: Michael Foucault. O filósofo italiano faz elogios ao pensamento foucaultiano de crítica das estruturas do poder, mas traz a advertência de que a crítica do poder em Foucault se faz a partir de um olhar excessivamente eurocêntrico. Nas obras de Foucault sequer há a presença dos povos coloniais, gerando o efeito de uma história inverossímil. A ausência dos povos coloniais, faz Foucault decretar o “término do espetáculo da punição e da “ritualização da morte” (FOUCAULT apud LOSURDO, p.143) com o fim do século XVIII, isto é, a derrocadas do Antigo Regime. Nesse caso, na avaliação de Losurdo, a periodização é equivocada, pois ao longo do século XIX e no século XX, tanto nos Estados Unidos quanto em territórios no hemisfério sul e leste, observou-se o largo emprego da punição e da morte contra os povos coloniais, postos sempre sob a condição de sub-humanos. Não era o término desse tipo de espetáculo sórdido, mas sim o seu apogeu.
A lacuna gerada pelo eurocentrismo histórico nas formulações de Foucault repercute, sobremaneira, em uma formulação no mínimo heterodoxa de racismo – este, seria o antiposto revolucionário. A gênese do racismo para o filósofo francês está situada no contexto da França revolucionária e nada se relaciona com as relações de discriminação, ordenadas por teorias ditas científicas, estabelecidas entre brancos e os povos coloniais de cor. Trata-se, portanto, de um quadro esotérico do processo histórico.

As conquistas do poder e as temporalidades do processo histórico
Em sua parte conclusiva, o livro faz um breve acompanhamento do que Losurdo chama de “sobrevida do marxismo ocidental”. Refere-se, pois, a pensadores da esquerda contemporânea que de uma forma ou de outra continuam a se distanciar da questão colonial do século XX e de suas reverberações na ordem geopolítica, econômica e material do século XX. Ineptos a denunciar o caráter colonial-contemporâneo das intervenções orquestradas pela OTAN e seu país-chefe, os Estados Unidos, os representantes do marxismo ocidental contemporâneo têm poucas ferramentas a mão para denunciar, combativamente, as articulações expansionistas e, muitas das vezes ilegais segundo as leis internacionais, de membros da aliança do Atlântico. Sob esse aspecto, Losurdo destaca a ineficácia do Conselho de Segurança da ONU enquanto órgão controlador da ação da superpotência norte-americana que se põe acima de qualquer limite jurídico-legal.
Em face dos desafios do novo século XXI, como forma de fazer renascer o marxismo ocidental, Losurdo propõe um exercício de reflexão sobre os equívocos do passado. O primeiro deles é abrir mão da característica messiânica e utópica que surge no marxismo ainda nos primeiros anos após a consolidação da URSS. A condução da revolução socialista deve-se ater à conjugação harmoniosa entre práxis e teoria, nunca prescindindo de uma ou de outra; portanto, focado em demasia na teoria, o marxismo ocidental se furtou em diversas ocasiões de prosseguir com a prática revolucionária, o que inclui a tomada efetiva do poder, ainda que com suas contradições e erros, para se reservar a elucubrações distantes e abstratas sobre as temporalidades mais remotas, e até utópicas, de um comunismo perfeito.
Como se observa, na China e em outros países socialistas que sobreviveram à queda da URSS, o cuidado revolucionário também está na dimensão do agora, ainda que esse esteja inserido em uma ordem burguesa.
Referência bibliográfica
LOSURDO, Domenico. O marxismo ocidental: como nasceu, como morreu, como pode renascer. Tradução de Ana Maria Chiarini e Diego Silveira Coelho Ferreira. São Paulo: Boitempo, 2018.


***
Em O marxismo ocidental, Domenico Losurdo conta a parábola do marxismo ocidental: seu nascimento, sua evolução e sua queda. Uma obra polêmica e combativa, que pode ser considerada uma espécie de acerto de contas com o percurso do marxismo ocidental, repassando toda a sua trajetória até suas figuras atuais, como Slavoj Žižek, David Harvey, Alain Badiou, Giorgio Agamben e Antonio Negri, sem deixar de visitar pensadores já clássicos como Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, György Lukács, Herbert Marcuse, Louis Althusser, Ernst Bloch e Jean-Paul Sartre. Losurdo diagnostica a ‘morte’ do marxismo ocidental, retraça sua gênese e coloca questões decisivas: seu renascimento seria possível nos dias atuais? Sob quais condições?
***
Jorge Fofano Junior é jornalista em formação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou como repórter da Jornalismo Júnior, integrou a equipe de comunicação do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e, atualmente, trabalha no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É também bacharel e licenciado em química.
***
O Espaço do leitor é destinado à publicação de textos inéditos de nossos leitores, que dialoguem com as publicações da Boitempo Editorial, seu Blog e obras de seus autores. Interessados devem enviar textos de 1 a 10 laudas, que não tenham sido anteriormente publicados, para o e-mail blog@boitempoeditorial.com.br (sujeito a aprovação pela editoria do Blog).

Deixe um comentário