Jeremiah Johnson
Filmado em dezenas de locações no estado de Utah e em situações extremas (onde o frio e as montanhas escarpadas impuseram grandes dificuldades ao elenco), Jeremiah Johnson, lançado em 1972, não parecia fadado a uma carreira de êxito no cinema. A lentidão e silêncio de muitas cenas, a aparente desconexão narrativa, os poucos diálogos e a falta de ação acentuada poderiam dificultar o andamento da história e cansar o espectador. Talvez por isso, os estúdios Warner Bros. (que forneceram um orçamento bastante apertado para a produção), fizeram pouco para promover a película. Foi o esforço, a insistência e o entusiasmo do diretor Sydney Pollack, e do ator Robert Redford, que levaram essa obra-prima contemporânea a ser o primeiro western a participar e ser aplaudido de pé no Festival de Cannes, no ano de sua estreia.
O primeiro ator a ser cogitado para o papel do protagonista foi Lee Marvin. Depois, seria a vez de Clint Eastwood, que logo desistiu do projeto. O desafio acabou sendo aceito por Redford, que interpretaria um soldado norte-americano veterano, desmobilizado da guerra contra o México, na década de 1840, e que buscava se isolar na “natureza selvagem”.
Como o regente escolhido inicialmente, Sam Peckinpah, também abandonou o barco, a direção foi parar nas mãos de Pollack, a partir do roteiro escrito por Edward Anhalt e John Milius (que mais tarde assinaria o script de Apocalypse Now). Com poucos recursos financeiros para completar esse verdadeiro “poema pictórico”, Pollack foi até mesmo obrigado a hipotecar sua casa para continuar a filmar. O retorno, porém, foi imediato. Afinal, este foi um dos maiores sucessos de crítica e bilheteria de 1972, ano em que também foram lançados O poderoso chefão, Cabaret, O último tango em Paris, A aventura do Poseidon, O discreto charme da burguesia, O retorno do dragão, Solaris, Tudo o que você sempre quis saber sobre o sexo, mas tinha medo de perguntar e A conquista do planeta dos macacos, entre vários outros. Pollack seria indicado à Palma de Ouro pela película.
 [Robert Redford e Sydney Pollack, durante a produção de Jeremiah Johnson]
[Robert Redford e Sydney Pollack, durante a produção de Jeremiah Johnson]
Se filmar foi complicado, mais ainda foi editar o trabalho. Ou seja, este é um filme em grande medida construído na sala de montagem. Foram sete meses e meio para deixar pronta uma “aventura” de uma hora e 48 minutos, o que foi feito com maestria por Thomas Stanford.
Não é possível falar de Jeremiah Johnson sem mencionar também, por certo, a fotografia magnífica de Duke Callaghan e a música emblemática assinada por Tim McIntire e John Rubinstein (filho do famoso pianista Arthur Rubinstein). The way that you wander, is the way that you choose… Esses versos da canção tema dizem bastante do filme em questão.
A película pode ser vista, por um lado, como a tentativa de fuga da “civilização” e seus pecados: a procura por uma vida longe das metrópoles, das guerras, da política e mesmo dos homens “modernos”, e em direção à pureza, à liberdade e à solidão. Por outro lado, paradoxalmente, é também uma denúncia ao expansionismo americano, à invasão de terras supostamente vazias (mas que em realidade faziam parte de territórios indígenas) e ao choque cultural, onde os “brancos” acabariam por destruir sociedades inteiras de nativos, que lutavam para preservar seu habitat. Nesse sentido, em Jeremiah Johnson se encontra um retrato dos frontiersmen e dos pioneiros, ainda que seja mostrado, sutilmente, que, em várias instâncias, mesmo sem querer, eles rompem com o equilíbrio social da região. Isso para não falar dos massacres e atrocidades que ocorreram durante todo o processo de marcha ao Oeste. Como o filme foi exibido em pleno período da guerra do Vietnã, ele teria bastante apelo simbólico para o público progressista dos Estados Unidos.
Apesar de baseado no romance Mountain Man, de Vardis Fisher e no livro Crow Killer, de Raymond W. Thorpe e Robert Bunker (sobre a vida de John Garrison Johnstone), Jeremiah Johnson segue um ritmo distinto e mais melódico do que a biografia do personagem real no qual se baseou. O protagonista é inspirado em John “Liver Eating” Johnson (apelido pelo qual Johnstone também ficou conhecido), mas não indica isso claramente. Redford interpreta um homem misterioso, que não tem quase nenhum detalhe de seu passado revelado ao espectador. Diferentemente do “verdadeiro”, o Johnson ficcionalizado é mais introspectivo, profundo e sensível. Não é difícil, neste sentido, associá-lo aos “heróis” de vários contos de Jack London, que também tinham de enfrentar, no distante Yukon, dilemas e situações similares…
Já no começo da história, Jeremiah Johnson, chegando à região, troca seu uniforme de combatente (símbolo do Estado e da obediência à política belicista do governo de Washington, assim como de uma “corporação”, de uma “coletividade”) e coloca roupas de caçador. Ele abandona um mundo para entrar em outro, o da vastidão dos bosques e do vazio geográfico (e por que não dizer, até mesmo emocional). Vai atrás de si mesmo.
O início é difícil. O protagonista precisa enfrentar as agruras da natureza e não está preparado para isso. Tanto pescar como caçar ainda são atividades estranhas a ele. Ao se deparar com o cadáver congelado de um forasteiro, “Hatchet Jack”, ele parece olhar para si mesmo: um retrato envelhecido do que poderá se tornar em algum momento. O homem, petrificado, segurava um rifle e guardava uma carta, na qual dizia a quem encontrasse sua carcaça sem vida que deixava de presente a arma de fogo (que não lhe seria mais de utilidade, por certo). É a imagem da irmandade dos homens, da passagem de gerações. Mas também da insistência na colonização, na penetração do território a todo custo. Se “Hatchet Jack” não poderia cumprir essa missão, ela seria transferida para os que viessem depois, os “invasores” anglo-saxões. E Johnson, então, tem em suas mãos uma ferramenta mais potente (melhor do que a que trazia consigo), para seguir o seu destino.
É quando encontra o impagável “Bear Claw” Chris Lapp (Will Geer), um mountain man ancião, solitário e falastrão, que apelida o viajante de “pilgrim”. Um precisa do outro, e a companhia ajuda os dois a enfrentar a solidão. Para Johnson, o idoso também serve como um professor, um mentor, que irá ensiná-lo a sobreviver nas Rochosas. O novato se verá diante, pela primeira vez, do crow “Paints His Shirt Red” (Joaquín Martínez), que também aparecerá ao final da narrativa e será uma espécie de nêmesis, seu duplo e antagonista, um rival que o admira e que ao mesmo tempo o recordará, constantemente, apenas por sua presença, que ele está em terras que não lhe pertencem. Nunca trocam uma palavra sequer.
Durante toda a trama, o protagonista aprende a viver num ambiente estranho, inóspito. Mas, ainda assim, precisa do contato e convívio humano. Isso voltará a ocorrer logo em seguida. Ao encontrar com uma mulher enlouquecida (Allyn Ann McLerie), que acabara de presenciar o massacre de sua família por guerreiros da tribo Blackfoot, e de ter apenas um filho como sobrevivente, o “aventureiro” se depara com a dor extrema da perda e do sofrimento. Sem ter como cuidar do menino, que irá ganhar de “pilgrim” o nome de Caleb (Josh Albee), a insana senhora entrega o garoto a Johnson, que agora terá uma responsabilidade que vai além de si. A presença de Caleb conecta Johnson com sua própria infância, com sua relação com o pai e com o que poderá ser o futuro da “colonização” da região. Se o soldado veterano decidir passar os valores do respeito e decência ao menino, quiçá o convívio com as culturas locais e a fixação do “homem branco” poderá ser eticamente justificável. Mas isso, como ele verá, é uma ilusão…
Por outro lado, o elo com os povos nativos será, por incrível que pareça, Del Gue (Stefan Gierasch), personagem moralmente duvidoso (um típico scoundrel, que desempenha o papel cômico do filme), mas que traz Johnson para as relações sociais concretas, ao levá-lo a uma aldeia Flathead, onde acaba sendo obrigado a se casar com Swan (Delle Bolton), filha do líder local. Vale ressaltar que a cerimônia do matrimônio é bastante singular, com elementos de rituais indígenas e católicos (o que mostra o sincretismo e a mistura cultural que se processava entre os “cabeças chatas”). E a partir daí, Johnson ganha, sem ter planejado, uma família: o menino Caleb (seu filho adotivo), como promessa de um possível estabelecimento anglo-saxônico “ético”, e Swan (sua esposa), a ponte entre duas culturas. O ex-combatente passa a amar verdadeiramente a ambos, e é com eles que acredita na possibilidade de um futuro feliz. Tudo isso iria ruir em pouco tempo…
Eles chegam a construir uma casa juntos, simbolicamente erigindo também as fundações de uma sociedade étnica e culturalmente harmoniosa. Mas a visita de uma coluna armada da cavalaria do exército norte-americano, encabeçada por um comandante e um religioso, acabará com seus sonhos. Johnson se envolve com os forasteiros, mesmo sem querer. O Estado e a Igreja, aqui, são os causadores do mal. Essa combinação simbolizará o fim dos sonhos do protagonista.
O comandante insiste que “pilgrim” os auxilie a chegar a um local de difícil acesso, onde se encontrava uma caravana de colonos perdidos, que não sobreviveriam sem uma ajuda imediata. Johnson não quer se afastar da nova família, sabe que ela correrá risco se ele estiver longe e principalmente se atravessar um cemitério crow, no meio do caminho. Ainda assim, ele acaba aceitando guiar os soldados (alertando para que não cruzassem o campo santo indígena). Com a intenção de cortar caminho e passando por cima das tradições dos nativos, contudo, a tropa montada avança. Ao retornar, Johnson percebe o que aconteceu: vê os objetos de sua esposa expostos no local que não deveria ter sido dessacrado. Corre de volta à sua casa, somente para encontrar a mulher e o menino assassinados pelos nativos.
A partir deste momento, está só… Sua crença numa possível irmandade dos homens se esvai completamente.
Depois de atear fogo em sua cabana, construída com as próprias mãos e com a ajuda de seus entes queridos, ele parte sem destino definido, matando todos os crows que se aproximam dele. É o tradicional tema da vingança que ganha destaque a partir deste momento.
Johnson se torna uma lenda na região, mas reforça a ideia da falta de comunicação e de pontes entre culturas, apontando para uma vida individualista e amarga, na qual a natureza é tão dura e implacável quanto os homens. Assim, o que lhe resta é apenas a solidão…
***
Luiz Bernardo Pericás é formado em História pela George Washington University, doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor em Ciência Política pela FLACSO (México). Foi Visiting Scholar na Universidade do Texas. É autor, pela Boitempo, de Os Cangaceiros – Ensaio de interpretação histórica (2010) e do lançamento ficcional Cansaço, a longa estação (2012). Também publicou Che Guevara: a luta revolucionária na Bolívia (Xamã, 1997), Um andarilho das Américas (Elevação, 2000), Che Guevara and the Economic Debate in Cuba (Atropos, 2009) e Mystery Train (Brasiliense, 2007). Seu livro mais recente é Intérpretes do Brasil: clássicos, rebeldes e renegados, organizado em conjunto com Lincoln Secco. Colabora para o Blog da Boitempo mensalmente, às sextas-feiras.


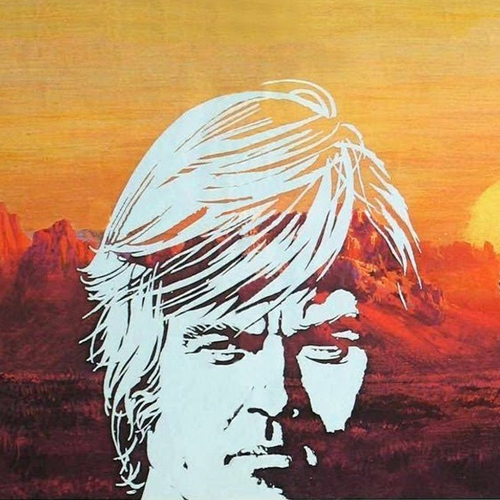
Bom dia. Caro amigo, você poderia, por favor, escrever uma resenha ( TÃO BRILHANTE E EXTENSA) como essa acerca de filmes dos ícones Lee Marvin, Paul Newman, Gene Hackman, Clint Eastwood e Harrison ford, ao menos uma vez por semana? Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.
CurtirCurtir