Tinta vermelha ou tinta azul?
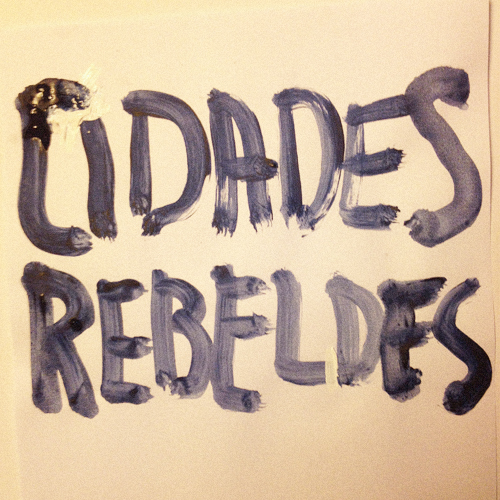 [Matriz, feita pelo artista plástico Sérgio Romagnolo, do lettering da capa de Cidades rebeldes]
[Matriz, feita pelo artista plástico Sérgio Romagnolo, do lettering da capa de Cidades rebeldes]
Por Christian Ingo Lenz Dunker.*
“Eu gostaria de saber onde tudo isso vai dar? – perguntou o filósofo ao taxista. “Já está dando” – respondeu o condutor. Mas por qual caminho? – poderia ter retrucado o pensador. “O caminho se confunde com o próprio caminhar, que não começou em Salvador e não vai terminar em São Paulo”, responderia o coletivo do Movimento Passe Livre. Mas a pergunta que não quer calar, desde as manifestações que tomaram o Brasil em 2013, é sobre a velocidade e o sentido desta caminhada. Segundo os fatos o Brasil cresceu, e com isso as cidades, em com elas as periferias. Entre a periferia e o centro aumentou o número de automóveis, e com estes o trânsito. Tudo se passa como se tivéssemos uma relação invertida entre aumento da mobilidade social e declínio da mobilidade real, simetria negativa entre aumento do poder aquisitivo e decréscimo do poder requisitivo, incremento contrário entre o número de vozes e a restrição das formas de reconhecê-las. Em algum ponto estes dois processos entraram em curto circuito.
“A velocidade média dos automóveis de São Paulo, medida entre 17h e 20h em junho de 2012, foi de 7.6 km/h, quase igual a da caminhada à pé” – constata a arquiteta e urbanista Ermínia Maricato. Nesta sequência de acontecimentos está a essência do livro Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil editado recentemente pela Boitempo em parceria com o site Carta Maior com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo.
É o que se pode chamar de “livro de intervenção”. Baseado em ângulos variados, colhidos por filósofos, sociólogos, urbanistas, historiadores, incluindo gente como David Harvey e Slavoj Žižek, temos uma espécie de snapshot sobre o que teria se passado no Outono do Passe Livre. Nele não se encontrará aquele sabor triunfalista que conta a história desde seu final, como que a tentar estabelecer, em primeira mão, a versão dos vitoriosos. É um livro que substitui a sede de destino da esquerda convencional pelo respeito pela anomia e pela indeterminação. “Onde estão as bandeiras e os carros de som com os megafones? Quem são os líderes? Quem manda? O apartidarismo ganhou sua versão fascista, antipartidária quando militantes de partidos quiseram aderir às manifestações e foram espancados […] pelos próprios manifestantes.” Considera Raquel Rolnik, logo na apresentação.
A heterogeneidade de vozes e de sentidos para o que “já está dando” – para voltar à sabedoria do taxista – coloca a tarefa chave do momento: escolher sem saber. Escolher sem ter todos os meios para escolher. É isso que dá nome ao selo editorial Tinta Vermelha no qual se inclui, além do presente livro, o várias vezes reeditado Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas, de 2012. Tinta Vermelha alude a uma piada popularizada por Slavoj Žižek. Nos tempos férreos do socialismo burocrático leste-europeu um sujeito é condenado à prisão na Sibéria. Antes de partir ele combina com seus amigos um código para enganar a censura que certamente vigiará suas cartas. Se a tinta com a qual a carta for escrita for azul seu conteúdo é verdadeiro, mas se a tinta usada na carta for vermelha, saberá tratar-se de mentira. Alguns meses depois chega a primeira missiva. E ela está escrita com o azul da verdade:
“Aqui na Sibéria vai tudo muito bem. As mulheres são belas e fartas. Os guardas são cordiais. O clima é ameno e encontramos toda a sorte de mantimentos com grande variedade de filmes nos cinemas. Temos toda a liberdade que desejamos, a única coisa que nos falta é tinta vermelha.”
Ou seja, a verdade não pode ser posta porque faltam os meios, como se não tivéssemos um ponto de vista possível, ou como se faltassem as palavras, ou a tinta adequadas para dizê-la. Ainda assim, em certos momentos, mesmo que os meios certos sejam dados, seu conteúdo se constrange ao falso, pela impossibilidade de captar a natureza da oposição real que está em jogo.
Assim também ocorrências como o Occupy e as manifestações deflagradas pelo Movimento Passe Livre exigem um ponto de vista que ainda não pode ser dado porque nos convidam a um sentimento necessário de insegurança ontológica, próprio das encruzilhadas éticas e políticas. E é exatamente isso que o livro não faz. Ele não traz um ponto de vista unificado e bem posto sobre o sentido dos fatos, mas procura reproduzir a forma mesma de sua indeterminação. Meio livro meio jornal, meio fanzine, meio panfleto, a um tempo acessível e complexo, o projeto é perfeitamente congruente com uma das ideias mais simples legadas pela experiência das Jornadas: para cobrir este tipo de acontecimento é preciso reinventar a relação entre meio e mensagem, é preciso buscar outra plataforma de comunicação. Para tanto o projeto convida, por exemplo, o coletivo Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação (mídia NINJA) para participar com fotografias inéditas da cobertura dos eventos. A produção gráfica inclui entre outros quadrinhos de Laerte, Rafael Grampá ou Pirikart, além do quadrinho-manifesto de Gabriel Bá, que conferem ao conjunto o inesquecível sabor redivivo do Pasquim. Na contracapa, como que para “dar uma canja”, aparecem dois monstros sagrados da esquerda universitária: Paulo Arantes e Roberto Schwarz. Em suma, o livro trabalha, desde a diagramação até os cartazes que abrem os capítulos, passando pela gramatura do papel, com um projeto editorial ostensivamente alternativo.
A polifonia de perspectivas não se resume aos aspectos formais. Também no conteúdo há uma heterogeneidade calculada de estilos e posicionamentos, de níveis de discurso e de estratégias de análise. Há alguns, como João Peschanski, que recorrem a irretorquível argumentação sobre a impropriedade da cobrança de tarifas de transporte. Outros, como Mike Davis, narram sua experiência quase pornográfica na possessão brutamontes de um Hummer, adaptado para a vida civil, nas estradas da Califórnia. Davis, aliás, que foi caminhoneiro, açougueiro e militante estudantil antes de tornar-se professor na Universidade da Califórnia. Outros ainda, como Silvia Viana, abordam o complexo de baderna e a fobia antissocial da imagem da violência. Ruy Braga mostra que para entender a origem do movimento, e da insatisfação que lhe dá causa, é preciso levar em conta como o “precariado” foi expulso para a periferia da periferia. Este “explosivo estado de inquietação social” exprimiria assim uma espécie de guerra não declarada em torno dos usos e abusos da cidade, como território e como experiência coletiva. Rebelião se diz em grego “parapikrasmos”, que contém o radical “pikros”, ou seja, amargo. E de fato é por uma convergência de inépcias, bloqueios e indiferenças que se catalizou uma verdadeira cultura da indignação, de amargo sabor, ainda que em tempos de progresso. O direito rebelde, a mídia rebelde, a vida digital rebelde, os movimentos sociais rebeldes, são retratados respectivamente por Venício Lima, Leonardo Sakamoto e Lincoln Secco como aspectos de um mesmo traço do anacronismo institucional brasileiro.
É preciso conferir destaque especial aos textos dedicados à análise da mídia e à forma como o jornalismo tradicional cobriu os eventos. A descrição da surpresa “em ato” com a qual José Luiz Datena, do Brasil Urgente, constatou que seu público alvo aprovava “este tipo de protesto”, não é apenas hilariante, ela sintetiza a questão fundamental do livro, a saber, o despreparo e a impotência dos analistas simbólicos convencionais para lidar com a leitura e interpretação de fatos cujo sentido é ainda indeterminado. Portanto, não é uma surpresa que depois das Jornadas tenhamos observado uma renovação conservadora entre os formadores de opinião, como que a observar a regra de que diante de situações de incerteza é melhor convocar os que sabem demais e estão dispostos a gritar mais alto.
Silvia Viana e Jorge Luiz Souto Maior abordam, respectivamente, o embaraço da cobertura da imprensa e o despreparo jurídico em que estamos para lidar com os antagonismos que estão em causa, quando se trata de movimentos sociais transformativos. Neste ponto o livro apresenta alguns diagnósticos e prognósticos promissores sobre as Jornadas de junho:
- Há um déficit de democracia participativa que precisa ser resolvido.
- A urgência da reforma política precisa favorecer o uso “inclusivo” das comunicações.
- A percepção da “indiferença” institucional do Estado para com a injustiça social redundará em mais violência e continuidade do estado de inquietação social. “A chave da verdadeira liberdade reside também na rede ‘apolítica’ das relações sociais, desde o mercado até a família, em que a mudança necessária, se quisermos uma melhoria efetiva, não é a reforma política, mas a transformação das relações sociais ‘apolíticas’ de produção”. (Slavoj Žižek, Cidades rebeldes, p. 107)
- Os protestos não se associaram com greves, eles exprimem uma demanda de ampliação da política para além do que entendemos por política instituída.
- A cidade, atualmente governada pelo automóvel, não é só palco e território das lutas, mas também aquilo pelo que se luta.
- A retórica do possível, da gestão da desigualdade e da produção controlada da anomia deve reconhecer sua impotência diante do conflito real. É preciso “expandir as esferas da liberdade e dos direitos para além do confinamento estreito ao qual o neoliberalismo o reduz” (David Harvey, Cidades rebeldes, p. 33).
- Devemos apostar na rebelião do desejo e na ideia de que o movimento “não começou em Salvador nem vai terminar em São Paulo”.
A preocupação latente nos diferentes artigos consiste em determinar se as manifestações, consensualmente tomadas como populares, escrevem-se com a tinta vermelha ou com a tinta azul. Para retomar o chiste de Žižek convém lembrar que a sutileza do problema não está na impossibilidade de dizer a verdade, porque o aparato repressor da censura corta e bloqueia as mensagens perigosas, presentes nas cartas, ainda que não as impeçam de chegar ao seu destino. Portanto, não se trata apenas da liberdade de escrever cartas, nem da propagação de seu conteúdo, ou da universalidade das letras nas quais ela é escrita: trata-se da tinta. A ausência de tinta vermelha nos impede de mentir. E quando a mentira não é mais possível a verdade dissolve-se sob signos de impotência.
Foi isso que se viu na bancada perplexa de entrevistadores do programa “Roda Viva” (da TV Cultura), quando dois jovens integrantes do MPL, em um baile retórico memorável, desativaram as imputações de anarquia, violência e desordem atribuída ao movimento. A inesperada inversão de perspectiva sobre os acontecimentos, desde a agressão de uma repórter, a perturbação da interpretação dos fatos, o colapso das antecipações de sentido e das confirmações ideológicas tradicionais, registrados nos primórdios do movimento contra o aumento da tarifa de ônibus, não nos dá acesso a verdade, apenas exprime instantes de suspensão da mentira.
Quando um juiz posterga os procedimentos para retirada de estudantes que ocupam a reitoria da USP ele não está derrogando o estado democrático de direito, ele está apenas produzindo um instante de vacilação. Um instante no qual é possível imaginar que estamos diante de Morpheus, personagem do filme Matrix (1999) dos irmãos Wachowski, a nos estender as mãos com uma pílula vermelha e outra azul. Desta vez é a azul que leva você de volta para casa, “como se nada tivesse acontecido”, enquanto a vermelha te coloca na viagem rumo ao “deserto do real”. É a suspensão da relação simétrica entre verdade e mentira que introduz o vacilo pelo qual se pode intuir o amargo real.
Tudo se passa como se as manifestações de junho compusessem o elemento final de uma série que desestabiliza nossa relação com a verdade política trivialmente carregada de descrença, indiferença e desesperança. Parafraseando o chiste siberiano:
“Aqui no Brasil tudo vai muito bem. O PIB cresce a olhos vistos e quase não se sente o vento da corrupção. No cinema há filmes novos sobre a Copa do Mundo. Os investimentos em mobilidade urbana estão bem distribuídos e a justiça social vem prosperando. A única coisa que não se encontra é paz nas ruas.”
Ou seja, as manifestações são o sintoma colateral de uma cultura do amargor que percebe o espaço público e a prática política como cínica e indiferente. Toda a mentira pode ser posta e reposta desde que saibamos qual a cor da tinta na qual ela está escrita. Digamos: vermelho para a versão PT, azul para a versão PSDB; sangue e violência para o caso vermelho, persistência e institucionalidade para o caso azul; vermelho para narrativa revolucionária, azul para a narrativa fascista; vermelho para os que interpretam que o ciclo de desenvolvimento propiciado pelo lulismo chegou ao fim, azul para os que entendem que ele está só começando. Ora, neste sistema de falsas equivalências e de distribuição dos valores de verdade, um elemento parece ter sido decisivo para perceber que nem tudo é tão relativo assim, ou seja, a interpretação da violência. E a violência é este grão de real entre a verdade e a mentira. Para nos atermos aos dados trazidos por Lincoln Secco, no dia 16 de junho havia por volta de 2.000 manifestantes na passeata paulista. Após a violência policial desmedida e noticiada no dia 17 de junho chega-se a 250 mil pessoas. Entre os dias 19 e 20 eram 3 milhões no Brasil inteiro.
Ora, a interpretação da violência, e principalmente de sua legitimidade ou ilegitimidade, parece ter uma ligação direta com a crise de confiança na representação. A singularidade como o Movimento Passe Livre esquivou-se a formação de lideranças, ou de alinhamento com disposições políticas constituídas, é um bom exemplo de como as vozes mais possantes no decorrer dos acontecimentos foram as que se abstiveram de “grandes narrativas” não porque elas perderam o sentido ou a força, mas porque elas cumprem a função de agregar representatividade e estabilizar a relação entre verdade e mentira. De certa forma as manifestações não forçaram a escolha entre o vermelho ou o azul, mas a impossibilidade e a fraqueza da alternativa colocada desta maneira. Isso não significa em absoluto a conciliação púrpura da mistura que recusa a política, os partidos e suas oposições ultrapassadas, mas, como afirmou Mauro Iasi:
“(…) a repressão aos jovens e a prepotência dos governantes funcionaram como catalizador das contradições que germinavam sob a aparência de que tudo corria bem em nossa país. Não era mais possível manter o real como impossibilidade sem ameaçar a continuidade da vida.” (Cidades rebeldes, p.46)
Talvez não seja o caso de suspender as oposições políticas, a tensão entre azul e vermelho, para, em vez disso nos dirigirmos aos fatos eles mesmos. Freud, criticando o idealismo dos filósofos, dizia que eles são como estas figuras que, com seu roupão remendado e a vela da verdade em mãos, tentam consertar os buracos metafísicos do universo. Podemos dizer, com Lacan, que os novos realistas, pragmáticos da pós-política, são estas figuras que com o lança-chamas das técnicas de gestão e com o regulamento do condomínio em mãos, tentam consertar o buraco real dos fatos.
* Publicado originalmente na revista Diversitas.
***
Confira a aula Žižek e a psicanálise de Christian Dunker ministrada no “Curso de introdução à obra de Slavoj Žižek” do Seminário Internacional Marx: a criação destruidora, que trouxe, entre outros, David Harvey e o filósofo esloveno ao Brasil:
Disponível em ebook por R$5,00 nas livrarias
Amazon, Travessa, Saraiva e Google Play, entre outras!
Livro impresso por R$10,00 nas livrarias
Saraiva, Travessa e Cultura, entre outras!
 Confira a cobertura das manifestações de junho no Blog da Boitempo, com vídeos e textos de Mauro Iasi, Ruy Braga, Roberto Schwarz, Paulo Arantes, Ricardo Musse, Giovanni Alves, Silvia Viana, Slavoj Žižek, Immanuel Wallerstein, João Alexandre Peschanski, Carlos Eduardo Martins, Lincoln Secco, Dênis de Moraes, Marilena Chaui e Edson Teles, entre outros!
Confira a cobertura das manifestações de junho no Blog da Boitempo, com vídeos e textos de Mauro Iasi, Ruy Braga, Roberto Schwarz, Paulo Arantes, Ricardo Musse, Giovanni Alves, Silvia Viana, Slavoj Žižek, Immanuel Wallerstein, João Alexandre Peschanski, Carlos Eduardo Martins, Lincoln Secco, Dênis de Moraes, Marilena Chaui e Edson Teles, entre outros!
***
Christian Ingo Lenz Dunker é psicanalista, professor Livre-Docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), Analista Membro de Escola (A.M.E.) do Fórum do Campo Lacaniano, fundador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, autor de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (AnnaBlume, 2011) vencedor do prêmio Jabuti de melhor livro em Psicologia e Psicanálise em 2012. Desde 2008 coordena, junto com Vladimir Safatle e Nelson da Silva Junior, o projeto de pesquisa Patologias do Social: crítica da razão diagnóstica em psicanálise. Colabora com o Blog da Boitempo esporadicamente.





Deixe um comentário